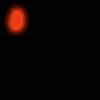
R.
Scott Appleby*
Fundamentalismo: Definição Geral e
Características Ideológicas e Organizacionais
Fundamentalismo Islâmico e os Direitos
Humanos
O Debate Interno Islâmico sobre os
Direitos Humanos
Cristianismo, Fundamentalismos e Direitos
Humanos Religiosos: Missão, Perseguição e Tolerância
“A Grande Comissão” e o Debate
Interno Cristão sobre os Direitos
Conclusão
Na
era dos direitos humanos, as comunidades religiosas têm sido
participantes ativas no emergente discurso internacional dos direitos
humanos.
Afirmando
que suas escrituras sagradas e tradições éticas sacralizaram “os
direitos humanos” há séculos, antes mesmo que o termo fosse assimilado
pelo discurso político moderno, as religiões apropriaram-se de elementos
da “discussão dos direitos” do período pós-guerra, ou apressaram-se
em formular seus próprios discursos paralelos, que tendem a desafiar o
foco individualista do discurso ocidental dos direitos humanos ao
asseverar direitos e responsabilidades comuns. Líderes protestantes, católicos
romanos e judeus, na América, por exemplo, responderam aos excessos do
individualismo radical, promovendo um discurso compensatório de
responsabilidade cívica a serviço do bem-estar comum e lembrando seus
concidadãos das contribuições, de longa data, das comunidades
religiosas para o cultivo de virtudes cívicas e da responsabilidade
social.
Pesquisadores muçulmanos iniciaram um amplo debate sobre a “democracia
islâmica” e os “direitos humanos islâmicos” no Oriente Médio,
norte da África e sul da Ásia. Ativista budistas
desafiaram regimes opressores na Tailândia, Birmânia e Camboja,
invocando normas referentes aos direitos humanos e protestando contra
violações do estado nesses países.
Nos anos que se seguiram à guerra fria, as religiões e os atores
religiosos também moveram esforços para criarem culturas voltadas para
os direitos religiosos e outros direitos humanos.
Em
regiões submetidas a rápidas transições sociais e políticas que abrem
espaços para inovações, diferenciação e crescimento religiosos, o
papel das religiões na definição e proteção dos direitos humanos tem
sido eloqüentemente contestado. “Guerras das almas” estão sendo
empreendidas por católicos romanos e protestantes evangélicos na América
Latina, por cristãos e muçulmanos, em partes da África e em países do
antigo bloco soviético, onde a explosão de diferentes religiões tem
testado a capacidade da região de tolerar a diversidade religiosa e
acomodar o pluralismo legítimo sob a lei.
As
religiões, como guardiães e críticos da cultura, estão entre os
agentes sociais primários de transformação cultural: em muitos cenários
em todo o mundo, elas situam-se em posição singular de mediar o encontro
entre o universal e elementos específicos de uma cultura, os quais devem
coexistir em qualquer regime viável dos direitos humanos. Os atores
religiosos também servem como testemunhas técnicas, por assim dizer, no
que tange ao grau e tipo de direitos humanos religiosos
que merecem proteção nas sociedades pluralistas. Através de sua prática
de proselitismo, ou “conversão da alma” – ou de respostas à essa
prática, por pessoas estranhas a ela – as religiões afetam diretamente
o bem-estar das sociedades transtornadas pela discórdia civil, surgidas
entre pessoas e grupos de convicções intensamente arraigadas e
dissonantes. Diariamente eles deparam-se com perguntas controvertidas
sobre normas referentes a direitos humanos interculturais: Quem participa
do processo definidor dos direitos? Que critérios governam a interpretação
e a prática dos direitos humanos?
Em
alguns casos, finalmente, as religiões bem como outras associações
voluntárias estão preparadas para liberar (ou prevenir) o estado de
assumir a total responsabilidade de definir e desenvolver os direitos
civis e políticos, os direitos sociais, culturais e econômicos de
“segunda geração” (por exemplo, os direitos à educação, ao
emprego, à assistência médica, à assistência à criança, etc.) e os
direitos ambientais e de desenvolvimento de “terceira geração”.
Este
ensaio concentrar-se-á em um grupo de atores do meio religioso, ou seja,
aqueles freqüentemente conhecidos como “fundamentalistas”. Após
definir o que quero dizer com fundamentalismo, descreverei o desafio que
os fundamentalistas colocam para os direitos humanos das duas maiores
religiões missionárias do mundo, o Cristianismo e o islamismo. Quase
metade da população mundial segue uma dessas crenças monoteístas. (O
Cristianismo verificou 1,7 bilhão de fiéis em todo o mundo, em 1998,
enquanto que o islamismo orgulha-se de ter cerca de 1 bilhão de
seguidores.) No que se segue, eu focalizarei, nessas tradições, debates
contemporâneos referentes ao significado e propósito da “missão
religiosa” e “identidade religiosa”. O significado realizado desses
conceitos, central ao discurso fundamentalista de cada tradição,
diretamente moldam a compreensão dos direitos humanos, por cristãos e muçulmanos.
Da mesma forma, os resultados desses debates influenciarão como os cristãos
e muçulmanos conceituarão e defenderão os “direitos humanos” no século
XXI.
Fundamentalismo: Definição Geral e
Características Ideológicas e Organizacionais
Alguns
observadores automaticamente equacionam “fundamentalismo” com
extremismo e usam o termo como um instrumento para marcar cada seguidor
religiosamente ortodoxo, educado e devoto. Através dessa ótica
distorcida, cada fiel é um militante, cada militante um fundamentalista,
cada fundamentalista um extremista violento. Alguns muçulmanos, cristãos
e judeus não-fundamentalistas opõem-se ao “fundamentalismo”, com
base na implicação de que seus correligionários extremistas estão, na
verdade, seguindo ou defendendo os “fundamentos” básicos da crença;
a maioria dos fiéis não concordam com essa visão. Finalmente,
historiadores corretamente se opõem quando o uso extravagante do termo
induz os não-especialistas a negligenciarem ou fundir os detalhes de
movimentos individuais e seus contextos e, conseqüentemente, a subestimar
a vasta gama de diferenças entre esses movimentos, muito maiores do que
as semelhanças.
Cautelosamente
definidos, contudo, conceitos comparáveis ao “fundamentalismo”
certamente ajudam-nos a diferenciar padrões mais amplos de militância
religiosa no mundo real. Eles estabelecem critérios confiáveis pelos
quais se podem questionar resultados de estudos de caso, passíveis de
generalização, e criar um vocabulário intercultural com o qual se
possam elaborar comparações específicas de movimentos e grupos. O termo
“fundamentalismo”, neste sentido, refere-se a um padrão específico
de militância religiosa através do qual se definem os seguidores
convictos que tentam impedir a erosão da identidade religiosa, fortificar
as fronteiras da comunidade religiosa e criar alternativas viáveis a
estruturas e processos seculares. Nada nesta definição sugere que o
fundamentalismo necessariamente promova a violência e a intolerância. O
objetivo comum dos fundamentalistas, em suas tradições distintas – de
proteger e fortalecer a identidade religiosa, competindo com instituições
e filosofias seculares por recursos e alianças – não viola os princípios
básicos de sociedades pluralistas e inclusivas, entre os quais se
encontram os direitos humanos.
As
tendências excludentes dos fundamentalismos tornam-se evidentes,
entretanto, quando examinamos seu padrão comum de militância religiosa
– quero dizer, seus meios comparativos de criar e sustentar alternativas
ao secularismo.
O
modelo fundamentalista constitui uma configuração particular de
ideologia e recursos organizacionais. Como ideologia, começou como uma
reação à penetração de elementos estranhos, seculares ou religiosos,
na comunidade religiosa. Na era pós-colonial, as reações culturais e
políticas do colonialismo continuam a ser sentidas no limiar do século
XXI. A sensação de encontrar-se exilado em sua própria terra não ameaça
apenas os grupos fundamentalistas e seus seguidores entre as massas; influências
externas, muitas delas decadentes, são numerosas. Os fundamentalistas
definem como “elementos externos” os correligionários sem convicção,
compromitente, ou liberais, assim como pessoas ou instituições de
diferente, ou mesmo nenhuma, crença religiosa. Tropas estrangeiras com
bases em solo sagrado, missionários, executivos ocidentais, suas próprias
autoridades governamentais, pregadores sectários, voluntários de
programas de educação e assistência social, trabalhadores de assistência
a situações de calamidade e observadores de paz profissionais –
qualquer um, ou mesmo todos, podem, em alguma ocasião, enquadrar-se nessa
definição. Os fundamentalistas percebem esta gama de atores sob a ótica
de agentes, intencionais ou inadvertidos, de secularização, um processo
implacável mas, de forma alguma, inevitável, pelo qual as religiões
tradicionais são gradualmente relegadas às mais remotas margens da
sociedade, onde podem encontrar uma morte inocente – eliminadas pelo que
o intelectual iraniano Jalal Al-e Ahmad chamou de “o veneno doce e
letal” da “Ocidentoxicação” (“Westoxication”).
Nesta
situação, o peregrino da pureza” cultural e religiosa é tentado a
construir um enclave, um sistema sócio-cultural dedicado à fortificação
de fronteiras comunitárias. Os líderes religiosos
procuram reformar a tradição religiosa com vistas a prevenir o perigo da
constante perda de seguidores e, finalmente, da morte ignóbil. Os
fundamentalistas que se armam e recorrem a táticas terroristas enfatizam
a dupla face da realidade, com o mundo dividido em territórios dos
virtuosos e dos pecadores, fiéis e infiéis. No ensinamento não-ortodoxo
de líderes cristãos e fundamentalistas islâmicos, os “direitos
humanos” apropriadamente pertencem apenas àqueles cujas vidas são
vividas em conformidade com a vontade de Deus – ou seja, verdadeiras
humanas.
A
reação contra as forças da descrença toma a forma de um resgate
seletivo do passado sagrado – linhas ou passagens do livro sagrado,
ensinamentos tradicionais de um guru ou profeta, feitos heróicos ou episódios
de uma época dourada mitificada (ou momento em uma tragédia) – com o
propósito de se legitimar uma ideologia inovadora ou programa de ação
destinado a proteger e fortalecer os “fundamentos” da religião bem
como a rechaçar ou conquistar o estranho. A partir de seu sucesso (ou
fracasso devido à falta de apoio), ocorre uma expansão de sua agenda
para que se inclua a obtenção de maior poder político, a transformação
da política cultural circundante, a purificação moral da sociedade e,
em alguns casos, a secessão do estado secular e/ou a criação de uma pátria
religiosa “pura”.
Ideologicamente,
os fundamentalistas reagem contra – e interagem com – a modernidade
secular; e tendem a ser absolutistas, isentos de erro, dualistas e apocalípticos
na orientação cognitiva. Ou seja, os fundamentalistas vêem as verdades
sagradas como a base de todo conhecimento legítimo e os valores
religiosos como a base e o ápice da moralidade. Isto por si só não
diferencia os fundamentalistas dos fiéis tradicionais. Mas porque os próprios
fundamentalistas foram formados pela modernidade secular, ou em reação a
ela, eles se encontram em auto-competição com seus pares nas ciências
seculares. No entanto, eles também estabelecem os termos da competição,
apresentando seus textos sagrados e tradições – suas fontes
intelectuais, por assim dizer – como sendo inerentemente livre de erro e
invulnerável à procura de métodos críticos da ciência secular, da
história, dos estudos culturais e da teoria literária. Tendo subordinado
a epistemologia secular à sagrada, os fundamentalistas sentem-se, assim,
livres para engajaram-se em, ou mesmo desenvolver, novas formas de
tecnologia computacional e de comunicações, pesquisa científica,
organizações políticas, entre outros.
Não
importa quão especializada ou desajeitadamente imitem os modernos
seculares, os fundamentalistas, contudo, permanecem intrinsicamente
dualistas; eles imaginam o mundo dividido nos reinos distintos de luz e
trevas, habitados pelos abençoados e os pecadores, os puros e os impuros,
os ortodoxos e os infiéis. Muitos, se não fundamentalistas, dramatizam
ainda mais esta visão de mundo maniqueísta, colocando-a dentro de uma
moldura apocalíptica: o mundo enfrenta uma crise espiritual, talvez
aproximando-se do fim, quando Deus iniciará o terrível julgamento dos
filhos das trevas. Quando os filhos da luz são apresentados, em tais
imaginários milenares, como agentes desta ira divina, uma intolerância
violenta dirigida aos estranhos parece justificada, em termos teológicos.
Uma forma mais inclusiva de descrever este traço ideológico seria dizer
que os fundamentalistas tendem a ser “excludentes”. Quaisquer que
sejam as fontes teológicas específicas que a tradição religiosa
principal possa (ou não) ter para legitimar um desvio dos procedimentos
normais de operação, ou seja, que os fundamentalistas acreditem estar
vivendo em dispensação especial – um incomum e extraordinário tempo
de crise, perigo, um destino apocalíptico, o advento do Messias, a
Segunda Aparição do Cristo, o retorno do Imã Misterioso, etc. Este
“tempo especial” é excepcional não só no sentido de ser incomum,
mas porque sua urgência exige que os fiéis convictos façam exceções,
afastem-se da regra geral da tradição.
Oferece-se
aqui uma resposta à pergunta, “Como uma tradição religiosa que
normalmente prega apenas a paz, compaixão, perdão e tolerância adota um
discurso de intolerância e violência?” A resposta: estes não
constituem “tempos normais”. Conseqüentemente, os velhos zionistas
religiosos do Ichud Rabbanim de Israel invocavam a norma halakhic de
pikuach nefesh, ao sentenciar que os acordos de Oslo ameaçavam a existência
de Israel – e o próprio judaísmo. Esta opção
“livre-de-fracassar” tinha o efeito de subordinar todas as outras leis
às exigências da sobrevivência. O assassinato do Primeiro Ministro
judeu Itzhak Rabin foi o primeiro resultado direto dessa sentença. Da
mesma forma, o Ayatollah Khomeini, no seu último ano de vida, emitiu a
extraordinária sentença de que a sobrevivência da República Islâmica
do Irã demandava que partes da lei islâmica que a governava fossem
suspensas em deferência aos próprios julgamentos ad hoc do Jurista
Supremo (ou seja, de Khomeini).
Os
ensinamentos de Sayyid Qutb (1906-1965), um catalisador na ascensão do
extremismo muçulmano sunita, exemplifica o padrão ideológico
fundamentalista. Professor, ensaísta e inspetor no Ministério da Educação
do Egito, Qutb aderiu à Fraternidade Muçulmana em 1951, em sua volta dos
Estados Unidos, após três anos de estudos. A Fraternidade, fundada em
1928 na Cidade de Ismailia, no Canal de Suez, por outro professor, Hassan
al-Banna, tinha crescido e tornado-se um movimento líder de oposição do
Egito, com 500,000 membros atuantes e cerca de um milhão de defensores,
com o objetivo de expulsar os britânicos e trazer a sociedade egípcia
diretamente ao regime da Sharia (lei islâmica). Crescente violência
entre a Fraternidade e o Governo levou ao assassinato de Banna pela polícia
do rei, em 1949, bem como a sanções brutais, em 1952 e 1954, pelo regime
de Nassar. Enquanto a Fraternidade se reagrupava e respondia à repressão,
renunciando à violência e buscando um caminho político gradual, Qutb,
preso durante um dos cercos, manteve a chama revolucionária acesa com seu
tratado Milestones (“Marcos”),
de 1960, que se tornou o manifesto do extremismo sunita.
Em
Milestones, Qutb desenvolveu uma
interpretação do jihad, a
guerra santa islâmica, que se tornaria a doutrina central dos grupos
extremistas, tais como a Organização de Liberação Islâmica, do Egito
e Jordânia, a Organização Jihad e Takfir wal-Hijra, do Egito, assim
como outras células semelhantes no Egito, Norte da África, Líbano,
Israel, Arábia Saudita, o Banco de Gaza e os estados do Golfo.
A inovação radical de Qutb foi sua aplicação do conceito de Jahiliyya,
“o estado de ignorância da orientação de Deus”, a outros muçulmanos
(incluindo-se líderes árabes tais como Nasser) que, segundo declarou,
tinham abandonado o Islã em favor de filosofias e ideologias ateísticas.
“Todo o nosso meio, as crenças e idéias do provo, os hábitos e as
artes, as regras e leis são – Jahiliyya,
mesmo até onde o que consideramos ser a cultura islâmica, as fontes de
referência islâmicas, a filosofia islâmica e o pensamento islâmico, são
também conceitos de Jahiliyya!”
Como resultado, disse ele, “os valores islâmicos legítimos nunca
entram em nossos corações … nossas mentes não são nunca iluminadas
pelos conceitos islâmicos, não surge entre nós nenhum grupo de pessoas
do calibre da primeira geração do Islã”.
A
influência de Maulana Sayyid Abul Ala Maududi (1903-1979) é visível na
visão do Islã, de Qutb, como uma alternativa englobadora para a
sociedade Jahili. Maududi, nativo de Hyderabad, Índia, foi um pensador
sistemático brilhante, escritor prolífico, orador carismático, político
arguto e o idealizador da organização Islâmica do Sul da Ásia,
Jamaat-I-Islami.
Ele criou sozinho o discurso islâmico moderno; seus trabalhos elaboram as
implicações sociais e legais de conceitos como “política islâmica”,
“economia islâmica” e a “constituição islâmica”. O conceito
central de Maududi, baseado na afirmação tradicional do Islã como um
modo de vida completo e global, foi o iqamat-i-deen
(literalmente, “o estabelecimento da religião”) – a subordinação
total das instituições da sociedade civil e do estado à autoridade da
lei divina, como revelada no Corão (Qur’an)
e praticada pelo Profeta.
O
conceito é repetido nas exortações de Qutb, da prisão, para seus Irmãos
Muçulmanos. “Devemos retornar àquela pura fonte da qual as pessoas [os
antigos seguidores do Profeta Muhammad] extraíram uma orientação – a
fonte que é livre de qualquer mistura ou poluição”, escreve ele.
“Devemos retornar a ela para de lá extrair nossos conceitos da natureza
do universo, da natureza da existência humana e a relação dessas duas
com o Perfeito, o Ser Real, Deus Altíssimo. Do [Islã] devemos também
extrair nossos conceitos de vida, nossos princípios de governo, política,
economia e todos os outros aspectos da vida”.
Explícitos no manifesto de Qutb estão todos os elementos do modelo ideológico
fundamentalista: o alarme quanto à verificada perda de integridade
religiosa; a recusa ao comprometimento com estranhos; o sentido da crise
apocalíptica; a inveja e imitação da modernidade secular, justaposta à
repulsa a seus excessos imorais e, finalmente, o desejo de construir uma
alternativa religiosa inclusiva à secularidade. “Devemos também nos
libertar das garras da sociedade jahili, dos conceitos jahili, das tradições
jahili e da liderança jahili. Nossa missão não é de nos comprometermos
com as práticas da sociedade jahili, nem de sermos leais a ela. … Nosso
primeiro objetivo é mudar as práticas dessa sociedade. Nossa meta é
mudar o sistema jahili em suas raízes – este sistema que está
fundamentalmente em desacordo com o Islã e que, apoiado pela força e
opressão, tem nos privado de viver o tipo de vida exigido por nosso
Criador”.
Renúncia
da chamada sociedade islâmica, para Qutb, era um prelúdio para uma
ofensiva jihad contra os infiéis e apóstatas em todo o mundo. O
movimento islâmico utilizaria armas e táticas do mundo secular contra
isso.
Uma
vez que este movimento conflitua-se com a Jahiliyyad, que possui um
sistema prático de vida, bem como uma atividade política e material
apoiando-o, o movimento islâmico tem que produzir recursos paralelos para
confrontar este Jahiliyyad. Este movimento utiliza os métodos de pregação
e persuasão para reformar idéias e crenças; e faz uso da força física
e Jihaad para abolir organizações e autoridades do sistema jahili …[13]
Em
sua apresentação do jihad como uma guerra santa contra apóstatas ou muçulmanos
“jahili”, entre outros inimigos da “verdadeira religião”, Qutb
efetuou uma ruptura significativa com intérpretes da lei islâmica
contemporâneos. Ele justificou suas inovações de maneira
fundamentalista. Primeiro, envolveu as doutrinas de um sábio que havia
legitimado o extremismo, Ibn Taymiyya (1268-1328), estudioso medieval da
escola Hanbalite de jurisprudência islâmica que havia caracterizado os
mongóis como “falsos muçulmanos” e abençoou aqueles que lutassem
contra eles. Segundo, Qutb resgatou a prática de ijtihad,
o uso do próprio julgamento sempre que não haja disponível qualquer
texto explícito do Corão, ou do Hadith do Profeta. Finalmente, ele
“atualizou” e conferiu uma interpretação extremista de um preceito
tradicional – jihad – e justificou a interpretação recorrendo ao
“exclusivismo” (o argumento de que o início de “Jihiliyyad”
exigiu medidas defensivas extremas). Milestones
contém longas passagens de denúncia a interpretações minimalistas do
jihad, afirmando que a proibição do Profeta de lutar era apenas uma fase
temporária numa longa “jornada”, durante o período Meccan. Jihad não
se refere à defesa da pátria, Qutb insiste; é um comando para estender
as fronteiras do Islã até os confins da terra, um dever perpétuo dos muçulmanos
devotos.
Um
marco do discurso dos extremistas religiosos é a ambigüidade calculada
da retórica de seus líderes, no que tange à violência. O repertório
padrão de um pregador extremista – o uso constante de metáforas e alusões
veladas, imagens apocalípticas e retórica inflamada, nem sempre se
esperando que sejam tomadas literalmente, ou obedecidas como se constituíssem
um volume concreto de instruções – permite ao pregador evadir à
responsabilidade por operações fracassadas. Outros ativistas do
movimento, em qualquer circunstância, usualmente “operacionalizam” as
vastas “permissões” vocalizadas pelo líder extremista. Em Milestones,
Qutb faz uso de linguagem eloqüente, facilmente traduzida como legitimada
pela violência mortal contra os numerosos inimigos do Islã. Foi
interpretada desta forma pelos discípulos intelectuais de Qutb,
notadamente o grupo Jihad que assassinou o Presidente Sadat, do Egito.). O
legado de Qutb são os quadros de extremistas muçulmanos que criaram
novas formas de intolerância violenta e resistência religiosa aos
poderes de direito. Hoje, os elementos de sua ideologia aparecem em
manifestos e comportamentos de movimentos islâmicos extremistas que
cresceram alheios à sua esfera de influência original, tais como o Grupo
Islâmico Armado (GIA) que empreende uma campanha terrorista contra o
Governo “jahili” da Argélia, desde 1992.
Organizacionalmente,
os movimentos fundamentalistas, tais como aqueles inspirados por Qutb,
formam-se entre homens líderes, autoritários e carismáticos. Os
movimentos começam como enclaves religiosos locais, são cada vez mais
capazes de rápida diferenciação funcional e estrutural, assim como de
organização de rede internacional, como grupos afins oriundos da mesma
ampla tradição religiosa. Eles recrutam soldados rasos das classes
trabalhadoras e profissionais liberais, bem como homens e mulheres, mas
obtêm novos membros desproporcionalmente dentre homens jovens, educados,
desempregados ou subempregados (e, em alguns casos, de universidades e das
forças armadas); e impõem códigos estritos de disciplina pessoal, vestuário,
dieta e outros marcadores que servem, sutilmente ou não, para diferenciar
os membros do grupos de outros.
Ao
avaliar a influência da minoria dos fundamentalistas, dentro do islamismo
e do Cristianismo, é importante reconhecer que os debates mais intensos e
conflituados – e, talvez, em última instância, o de maior conseqüência
– estão sendo atualmente conduzidos no âmbito dessas duas próprias
tradições, à medida que interagem com freqüência e rapidez, cada vez
maiores, com atores seculares, com outras religiões – assim como com
seus próprios seguidores, diversos e ideologicamente diferentes. O
corrente debate interno, no Islã, sobre direitos humanos, democracia e
identidade religiosa oferece um exemplo deste tema.
Fundamentalismo Islâmico e os Direitos
Humanos
Nos
últimos vinte e cinco anos do século XX, testemunhou-se o
estabelecimento de mais de trinta democracias constitucionais em todo o
mundo, bem como a proliferação de leis internacionais, tratados, pactos
e outros instrumentos dedicados à articulação e proteção dos direitos
humanos, dos quais não menos importantes são aqueles especificamente
destinados a proscrever a discriminação contra a crença e prática
religiosas – mais notadamente, o Artigo 18 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, o Artigo 18 da Convenção Internacional sobre os
Direitos Civis e Políticos (CIDCP) e os Artigos 1 e 6 da Declaração de
1981 sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação
com Base em Religião ou Crença.
Durante
o mesmo período, contudo, tornou-se excessivamente claro que essas convenções
e leis internacionais eram, em grande parte, irrelevantes para sociedades
em que não existisse uma cultura em que os direitos individuais e das
minorias fossem valorados. A linguagem dos direitos humanos
“universais”, empregada desde que as Nações Unidas promulgaram a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), tem inspirado resistência
de várias posições, tais como as comunidades religiosas que vêem a
tentativa de construção de um regime internacional da lei dos direitos
humanos como uma nova forma de colonialismo ocidental. O DUDH e subseqüentes
convenções impõem meios pós-iluministas do saber e suposições
culturais e ideologias ocidentais, dizem os opositores, que são tão
universalmente escravizantes quanto qualquer outro conjunto de princípios
culturalmente determinados.
Em
1992, durante uma apresentação para acadêmicos, diplomatas e
jornalistas em Washington, D.C., Hassan al-Turabi, líder sudanês e muçulmano
leigo da Frente Islâmica Nacional, articulou uma versão islâmica da crítica
relativista cultural. Turabi, exemplo requintado de um líder
fundamentalista islâmico, descreveu o que ele chamou de “O Despertar
Islâmico”, o retorno gradual à independência política e autonomia
cultural de países de maioria muçulmana, que se estendem desde o Oeste
da África ao Sudeste da Ásia. No século XXI, ele predisse, a nação-estado
de procedência ocidental secular será suplantada em todo o vasto arco
geográfico pelas estruturas, governo e leis da umma
(a comunidade universal dos muçulmanos). Um “choque de civilizações”
entre o Islã e o ocidente não é inevitável, disse Turabi, enquanto
outras culturas não tentem forçar os muçulmanos a submeterem-se aos
valores estranhos e obedecer a leis oriundas de fontes não-islâmicas.
Podemos falar através de fronteiras culturais sobre “os direitos
humanos” ou “a liberação da mulher”, continuou, mas a expressão
social desses “direitos” continuarão a variar dramaticamente, pois os
muçulmanos extraem o conteúdo desses termos não de filosofias seculares
e relativistas do ocidente, mas de fontes sagradas do Islã. Desta forma,
as sociedades islâmicas podem evitar as altas taxas de divórcio, uso de
drogas e decadência moral verificadas no ocidente, disse Turabi, culpando
por esse males a “compreensão falha da América quanto à legítima
liberação da mulher”.
Os
movimentos islâmicos e os regimes islâmicos, em 1998 – no limiar do
novo século – estão procurando um antídoto para o “imperialismo
cultural ocidental”, desenvolvendo programas destinados à implementação
de lei islâmica que resgate seletivamente os elementos mais restritivos e
os códigos penais mais rígidos da sharia. Cruel é o triunfo do Taliban
no Afeganistão; a violação, pelo movimento fundamentalista, da
liberdade religiosa (através da coação de homens à oração em
mesquitas) e suas restrições excessivas contra a educação e outros
direitos humanos e civis das mulheres têm suscitado ampla censura de nações
ocidentais, assim como de muitos intelectuais islâmicos. A atitude
desafiadora do Islã é contagiosa, ultrapassando as fronteiras do
Afeganistão até o Paquistão, onde o Primeiro Ministro Nawaz Sharif
introduziu uma lei, em agosto de 1998, para a criação de uma nova ordem
islâmica no Paquistão e estabelecer todo um sistema legal, com base no
Corão e a Sunna do Profeta. Os ativistas dos direitos humanos
imediatamente condenaram a emenda constitucional, que obriga o governo
federal a impor orações cinco vezes ao dia e recolher o zakat, ou a cobrança anual da dízima. Isso também daria mão mais
forte à comunidade majoritária sunita, no país, a qual tem se
defrontado em conflitos armados com minorias muçulmanas dos xiitas (Shi’ite), ocasionando centenas de mortes, dos dois lados, nos últimos
anos.
O Debate Interno Islâmico sobre os
Direitos Humanos
O
Islã não é apenas compatível com a democracia; sua própria essência
é democrática. Baseada no conceito legal de shura,
ou consultas entre os ulema, a versão islâmica da democracia assegura
uma ordem política justa e igualitária porque seus procedimentos e princípios
obedecem à sharia, ou lei islâmica e, portanto, refletem a vontade de
Allah. Assim o dizem certos estudiosos religiosos muçulmanos
entrevistados no início dos anos noventa.
Uma escola de pensamento islâmico mantém que o Islã é inerentemente
democrático porque a sharia permite aos juristas a flexibilidade de
empregar julgamento independente (ijtihad)
e buscar consenso (ijma’)
entre si. A Assembléia Legislativa do Estado islâmico, de acordo com um
líder intelectual dessa escola, deve ser verdadeiramente representativo
de toda a comunidade através de eleições livres e gerais, incluindo
homens e mulheres.
Tem-se
aqui um falso Islã, afirma contudo ‘Umar ‘Abdel Rahman, o sheik egípcio
cego, acusado de conspiração no ataque com bomba ao World Trade Center
(e discípulo e herdeiro intelectual de Sayyid Qutb); isto aponta para a
“predileção vergonhosa de nosso sistema governante religioso por
apologias; querem embelezar o Islã, para que não sejam acusados de
reacionários”. Examinando as mensagens contidas em áudio-tapes de
trinta pregadores islâmicos populares, anti-árabes, Emmanuel Sivan
encontrou evidência abundante de que a suspeita de Rahman e seu desdém
pela democracia, à maneira ocidental, é amplamente compartilhada por
milhares de muçulmanos que não são “teólogos ou juristas debruçados
minuciosamente sobre tratados eruditos, nem jornalistas escrevendo para
consumo externo”.
Da mesma forma, o estudo comparativo de Max Stackhouse sobre os direitos
humanos em três culturas concluiu que o Islã não possui um conceito básico
de direitos inalienáveis e não permite que o indivíduo goze das
liberdades de ação e associação característicos de uma democracia.
Quem
está correto – os proponentes da compatibilidade do Islã com a
democracia de estilo ocidental ou os que negam este argumento? Os
defensores da liderança moral do Islã na comunidade internacional, ou
seus detratores, que afirmam que os valores centrais ao Islã são antitéticos
à DUDH e outros instrumentos e convenções sobre os direitos humanos?
Claramente, há elementos de verdade em ambas as descrições do Islã do
final do século XX.
Ademais, muitas da questões apresentadas sobre o Islã aplicar-se-iam a
outras tradições religiosas em várias épocas de suas histórias,
inclusive no período contemporâneo – de fato, temos feito essas
perguntas sobre a própria religião.
A
capacidade do Islã (ou de qualquer outra religião) de conferir
legitimidade aos líderes políticos que elaboram políticas conduzentes
à tolerância cívica, sem violência, depende da situação de seus líderes
religiosos e intelectuais progressistas – suas posições na comunidade
religiosa e na nação, a autoridade consistente de suas interpretações
da lei islâmica e o apelo popular dessas interpretações. Depende também
da flexibilidade da tradição religiosa acerca do tema, a gama de
possibilidades contidas nas fontes escriturais e tradicionais. O debate
contemporâneo sobre a sociedade islâmica e o futuro da política islâmica
demonstra que um compromisso compartilhado com a observância da lei islâmica
não gera uniformidade ou mesmo a comensurabilidade de método entre os
islâmicos, ou entre os muçulmanos em geral. Como qualquer código legal
complexo, a sharia admite muitas interpretações e aplicações diversas,
cada qual inevitavelmente seletiva.
A
vida e o pensamento de Abdullahi Ahmed An-Na’im ilustram a dinâmica da
pluralidade interna do Islã. Na idade aproximadamente dos trinta anos e
lecionando Direito Comparado, na Universidade de Khartoum, no Sudão, seu
país de origem, Am-Na’im tornou-se líder de um movimento islâmico de
reforma, chamado os Irmãos Republicanos. Ele clamava eloqüentemente pelo
resgate e a construção de uma lei islâmica que demonstrasse e avançasse
sua compatibilidade com os direitos humanos “universais”. Denunciou
também o tipo do fundamentalismo islâmico do Presidente Numiery, do Sudão,
compartilhado em seus propósitos gerais por extremistas sunitas, da Tunísia
ao Paquistão, bem como pelos xiitas escravizados pelo Ayatollah Khomeini,
do Irã, como uma tentativa, enganosa e destinada ao fracasso, de impor a
sharia como um antídoto para o neo-colonialismo ocidental. Por seu
patriotismo, An-Na’im foi preso sem acusações, em 1984. No entanto, na
prisão e após sua libertação, ele continuou a insistir que os
elementos da sharia, evocados por Numiery e Khomeini – ou seja, as
diretrizes do direito penal, as liberdades civis e o tratamento das
minorias e mulheres apresentado pelo Profeta em Medina – promoveram
“uma auto-identidade islâmica, historicamente ultrapassada, que precisa
ser reformada”. A justiça social islâmica e o exercício do poder político
legítimo dependem, de acordo com An-Na’im, do resgate dos ensinamentos
do Profeta, em Mecca, os quais constituem “a fundação moral e ética”
da tradição. “A mensagem de Medina não constitui a mensagem
fundamental, universal e eterna do Islã. A mensagem inicial vem de Mecca”,
escreveu. “Esta contra-ab-rogação [do código de Medina] resultará na
total conciliação entre a lei islâmica e o desenvolvimento moderno dos
direitos humanos e as liberdades civis”.
Raro
é o intérprete de religião que não afirma manter seus
“fundamentos”. Ou melhor, a batalha é sempre sobre o que eles são,
onde podem ser encontrados, como e por quem eles devem ser interpretados.
Ao exigir o resgate da profecia de Mecca, concluiu An-Na’im, “nós
[Irmãos Republicanos] somos os “super-fundamentalistas”.
O
Professor An-Na’im mais tarde serviu como Diretor Executivo do Human Rights Watch (Vigilância dos Direitos Humanos), na África
e ensinou direitos humanos e direito comparado nas universidades da
Europa, África e América do Norte; no momento em que escrevo, ele é
Professor de Direito e Pesquisador sobre Direito e Religião na Emory
University. Como seu compatriota e colega de exílio sudanês, Francis M.
Deng, a feminista islâmica Riffat Hassan, o estudioso Shi’ite Abdulaziz
A. Sachedina e vários outros talentosos ativistas e intelectuais muçulmanos,
An-Na’im tem-se dedicado à elaboração de um discurso islâmico dos
direitos humanos por meio do qual os muçulmanos possam engajar-se com
outras tradições de direitos, em diálogo mutuamente útil.
An-Na’im
defende a ortodoxia deste projeto, ainda que ele reconheça a considerável
oposição a este assunto entre círculos poderosos. “Vejo a
possibilidade e utilidade de identidades e cooperações superpondo-se tão
integrais a minha fé como muçulmano, de acordo com o versículo 13 do
capítulo 49, do Corão”, escreve, traduzindo o versículo como se
segue:
Eu
[Deus], os [seres humanos] criei como [diferentes] povos e tribos para que
possam [todos] conhecer [compreender e cooperar com] cada um; os mais
honrados entre vós, aos olhos de Deus, sãos piedosos [bondosos].
Para
An-Na’im, este verso significa que “a diversidade humana, ou
pluralismo (seja étnica, religiosa, ou qualquer outra) é não somente
inerente à ordem divina das coisas, mas também deliberadamente criada
para promover a compreensão e cooperação entre os vários povos”. A
última parte do versículo, segundo ele, indica que a moralidade de um
indivíduo deve ser julgada por sua conduta; não porque pertença a um
grupo étnico ou religioso em particular.
Será
que esta leitura de Corão reflete as sensibilidades dos muçulmanos
presos no fogo cerrado da Bósnia, Kashmir, ou Gaza, e, muito menos, dos
que se armaram contra aqueles de diferentes etnias e religiões?
Refletiria, de fato, as sensibilidades da maioria dos muçulmanos, em
geral? Nos estados islâmicos, onde não há separação formal entre a
religião e a lei, mesquita e estado, a sharia (Shari’a)
é idolatrada e apresentada (se não consistentemente implementada) como
uma formulação final e básica da lei de Deus, não para ser revista ou
reformulada por meros seres humanos, mortais e falíveis. O preâmbulo à
Declaração Islâmica dos Direitos Humanos (1981) afirma que o “Islã
proporcionou à humanidade um código ideal de direitos humanos há
quatorze séculos”.
“Quando os muçulmanos falam sobre direitos humanos no Islã”, um
observador paquistanês comenta, “eles referem-se aos direitos conferido
por Allah, os louvados, no Corão Santo; direitos que são divinos,
eternos, universais e absolutos; direitos que são garantidos e protegidos
pela sharia”.
Sempre que haja um conflito entre a lei islâmica e a lei internacional
sobre os direitos humanos, de acordo com esta visão, os muçulmanos
tendem a seguir a primeira.
An-Na’im
prontamente admite que suas escolhas e interpretações de passagens do
Corão “partem da premissa de uma certa orientação que pode não ser
compartilhada por todos os muçulmanos hoje”. Muçulmanos de “uma
orientação diferente”, observa, “podem preferir enfatizar outros
versos do Corão que não sustentem o princípio de sobrepor identidades e
cooperação com o “estranho não-muçulmano”, mas que discrimine
entre “fiéis” e “incrédulos”.
Como
e por quem devem ser definidos os princípios de interpretação para uma
comunidade transnacional, sem hierarquia centralizada, tal como o Islã?
Como e por que critérios são esses princípios revisados? Quem,
basicamente, tem a autoridade para arbitrar e mediar as afirmações
dissonantes sobre o arcabouço de interpretação e sua aplicação? As várias
escolas de teologia e jurisprudência islâmicas, assim como as numerosas
opiniões em cada escola, testemunham o fato de que os muçulmanos sempre
divergiram, e sempre divergirão, quanto à escolha e interpretação de
versos e leis que fundamentem suas opiniões. A história indica que a
opinião de uma minoria pode conquistar maior aceitação à medida que as
políticas e orientações sociais muçulmanas mudem, assim como a exposição
a outras visões de mundo – inclusive as interpretações alternativas
do Islã – alterem as percepções muçulmanas dos comportamentos e
atitudes que constituam propriamente o caminho certo.
Se a força de uma nova idéia torna-se maior onde as circunstâncias sócio-políticas
tenham-na tornado plausível, é também factível dizer que as orientações
dos muçulmanos com relação ao mundo são influenciadas não só por
conquistas concretas, mas também por suas esperanças
e esforços para o aprimoramento
das condições sócio-políticas existentes.
De
fato, An-Na’im acredita que uma nova hermenêutica islâmica dos
direitos humanos pode-se tornar uma poderosa ferramenta para os muçulmanos
que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. O novo método de
determinar o que constitui direitos humanos legítimos para a lei islâmica
– se não exatamente métodos mais “democráticos” do que
tradicionais – seria mais inclusivo quanto à “compreensão, imaginação
e experiência dos povos muçulmanos”.
Hoje, em contraste com épocas passadas, a ação dos povos muçulmanos é
“simplesmente inevitável” para que se possa compreender as fontes de
referências sagradas bem como para que delas se possam extrair normas éticas
e princípios legais que regulem o comportamento individual e as relações
sociais.
Quero dizer que, no limiar do século XXI, os povos muçulmanos vivem
inseridos no contexto histórico específico da modernidade cultural – a
nova realidade global da interdependência política, econômica e de
segurança que molda os padrões pelos quais eles agem com outras culturas
e lutam para aprimorar suas circunstâncias concretas. O discurso dos
direitos humanos contemporâneo, no Islã, constitui resposta às demandas
e oportunidades deste contexto “globalizado”. Progressistas muçulmanos,
ao insistir que o Islã se conheça mais profundamente através da interação
com outras tradições, têm colaborado com estudiosos do Islã, não-muçulmanos,
e iniciado um diálogo com pesquisadores cristãos e judeus acerca de tópicos,
tais como “Perspectivas Ocidentais e Islâmicas sobre a Liberdade
Religiosa”.
Os muçulmanos árabes sunitas têm repetido a reivindicação do Rei
Hussein por um diálogo entre as religiões sobre os valores religiosos e
humanitários que permeiam as posições das partes no conflito árabe-israelense,
tendo participado em conferências interculturais e simpósios sobre a
secularidade, o Islã e os direitos humanos nos anos noventa.
Os
benefícios da modernidade transcultural inspirou também evoluções
internas e um novo discursos dos direitos humanos no Islã do sudeste da
Ásia. Abdurrahman Wahid, líder do tradicionalista Nahdatul Ulama, a
maior organização islâmica da Indonésia, tem defendido uma política
democrática e uma interpretação pluralista do Islã, nas quais os
direitos humanos sejam soberanos. Excessivamente crítico das tendências
“sectárias e exclusivistas” encontradas na versão do Islã do regime
de Suharto (especialmente como constituídas na Associação de
Intelectuais Islâmicos), Wahid também se opôs à “tendência para a
criação de organizações sociais e, em última instância, de partidos
políticos, com bases em comunidades religiosas e culturais”. A ala
progressiva do Islã indonésio, que surgiu com o crescimento da classe média
islâmica, encontrou uma voz teológica no neo-modernismo, uma escola de
pensamento que une a ênfase modernista sobre o pensamento independente (ijtihad)
com uma apreciação mais tradicional pelo legado da jurisprudência islâmica
clássica. Neo-modernistas como Nurcholish Madjid dedicam-se a desenvolver
um enfoque mais aberto, tolerante e pluralista da relação entre o estado
e a sociedade islâmica. Entre seus defensores encontra-se uma nova geração
de moderados islâmicos, tais como Amien Rais, cientista político formado
pela Universidade de Chicago, que liderou a oposição islâmica a Suharto.
A
República Islâmica do Irã oferece talvez o exemplo mais marcante da
emergência do “debate sobre direitos” islâmicos, sob as condições
da modernidade cultural. Com esta defesa de direitos humanos e democracia,
brilhantemente apresentada e formulada do centro da tradição das
jurisprudências xiita e islâmica (sendo esta maior), Abdolkarim Soroush,
filósofo e intelectual público iraniano, despertou um debate político
fascinante na casa da primeira revolução “fundamentalista”. Popular
entre os jovens e a elite tecnocrática do Irã, mas criticado pela elite
religiosa no poder, Soroush questiona a legitimidade política de seus
opositores e critica a doutrina de vilayat-i
faqih (guarda do Jurista Supremo), que constituiu o centro da
ideologia religiosa do Ayatollah Khomeini. Para Soroush uma ideologia
religiosamente imposta constitui uma distorção dos valores religiosos.
Ele defende os direitos humanos como o verdadeiro critério de governo do
estado islâmico – o critério que, de fato, garante a natureza
religiosa e democrática do estado.
Como
Soroush justifica esta reversão aparentemente radical? Enquanto o Islã
como religião é inevitável e eterno, ele afirma que “o conhecimento
religioso” (ma’rifat-i dini) – ramo do conhecimento humano produzido por estudiosos
engajados no estudo dos textos sagrados xiitas – encontra-se sempre em
fluxo, condicionado pela história e adaptável à compreensão científica
do momento. Soroush acredita que, moldado na era contemporânea por forte
interação cultural e conscientização popular de opções políticas, o
conhecimento religioso descobriu que o Islã e a democracia são compatíveis.
Ademais, num estado democrático, os direitos humanos não podem ficar
restritos a direitos de origem religiosa apenas. Os muçulmanos bem como
os não-muçulmanos não extraem seus direitos humanos de suas crenças,
mas, como Valla Vakili, discípulo de Soroush, explica, de “sua condição
de integrantes de um grupo maior da humanidade”.
Muitos
muçulmanos, opositores da democracia referem-se a isto como dimukrasi-yi
gharbi (democracia ocidental), identificando-a, portanto, com o
estranho ameaçador.
Soroush, em contrapartida, considera a democracia uma forma de governo
compatível com as culturas de políticas múltiplas, incluindo as islâmicas.
Nas sociedades muçulmanas, governos que obtêm sua legitimidade do povo
serão necessariamente governos religiosos, comprometidos com o dever de
proteger a santidade da religião e dos direitos do homem. Ao defender a
santidade da religião, Soroush adverte, o governo não deve privilegiar
uma concepção de religião específica, a fim de não sacrificar os
direitos humanos em benefício da pureza ideológica. Os critérios que
orientam a governabilidade devem ser os direitos humanos ao invés de
qualquer ideologia religiosa, em particular. De fato, afirma Soroush, uma
sociedade abraça uma religião em grande parte porque acata o senso de
justiça dessa sociedade. Hoje, isto inclui o respeito pelos direitos
humanos.
Este
apelo a critérios externos (ou seja, extra-religiosos) para avaliar a
realização da religião com relação a seus propósitos, é talvez o
aspecto mais marcante e controvertido do pensamento de Soroush. Constitui
um convite – um imperativo – ao diálogo intercultural e
interdisciplinar. Assuntos permeados pela política, tais como a relação
entre a religião e a justiça, embora enfocados pelo Corão e outros
textos religiosos, podem ser definidos para a época atual, Soroush
explica, apenas por muçulmanos que iniciem um debate teológico que
inclua discursos filosóficos, metafísicos, políticos, seculares e
religiosos.
Soroush
tem sido um pensador poderosamente influente devido à qualidade de suas
idéias – e porque elas vêm de um homem que esteve dentro do governo
iraniano. Após freqüentar a escola secundária de ‘Alavi, no Teerã,
uma das primeiras escolas a combinar o ensino das ciências modernas e
estudos religiosos, ele estudou farmacologia na universidade; depois, na
Universidade de Londres, fez seus estudos de pós-graduação em história
e filosofia da ciência. Confidente de ‘Ali Shariati, intelectual cujos
trabalhos sobre a governabilidade islâmica foram apropriados por
Khomeini, Soroush retornou ao Irã em meio à revolução islâmica e
assumiu um alto posto no Comitê da Revolução Cultural, responsável por
trazer para o Islã o sistema educacional universitário do Irã. Em 1992,
Soroush iniciou suas palestras, extensivamente, para platéias leigas e
teológicas em universidades e mesquitas de Teerã e em seminários em Qum.
Sua educação universitária, bem como suas credenciais revolucionárias
e conexões com figuras importantes do governo davam poder a Soroush para
falar com uma autoridade compartilhada por poucos entre a inteligência
religiosa iraniana.
Em 1997, apesar da ameaça de extremistas jovens do Ansar-e-Hezbollah,
Soroush aplaudiu publicamente a eleição de Mohamed Khatami. No entanto,
ele também criticou o novo Presidente por sua indecisão diante de seus
oponentes “fundamentalistas” e conclamou-o a defender os direitos
humanos e a liberdade acadêmica.
Soroush,
Madjid e An-Na’im fazem parte de uma nova geração de intelectuais muçulmanos
formados não pelo sistema de educação religiosa tradicional, mas
educados nas tradições intelectuais islâmicas e nas correntes do
pensamento ocidental. Uma vez que a autoridade religiosa sofre fragmentação
em todo o mundo muçulmano, esses pensadores “pós-fundamentalistas” vêm
causando impacto substantivo no pensamento religioso de suas respectivas
sociedades. Não há mais uma voz única do tradicional ulama em defesa do
Islã, mas muitas vozes dissonantes, cuja existência contribui para a
evolução do pensamento e da cultura política das sociedades muçulmanas.
Se pensadores como An-Na’im e Soroush continuarem a conquistar corações
e mentes no mundo islâmico, será possível alcançar-se um progresso
significativo na construção de um regime transcultural dos direitos
humanos. A idéia de que os direitos humanos pertencem à humanidade e não
a uma religião específica oferece não só uma base de apoio necessário
ao diálogo intra-religioso sobre valores, direitos e responsabilidades em
um mundo interdependente; ela estabelece também o arcabouço para um frutífero
diálogo inter-religioso sobre os direitos humanos.
A
redisposição dos direitos humanos como parte da própria humanidade, em
vez da identidade religiosa, constituiu uma vitória do Catolicismo Romano
no que tange aos direitos humanos, em 1965. A Declaração da Liberdade
Religiosa (Dignitatis Humanae, 7
de dezembro de 1965), do Segundo Concílio do Vaticano, proclamou pela
primeira vez que “o erro teológico tem direitos”. Em outras palavras,
aos não-católicos que vivem num estado católico não podem ser negados
os direitos civis e humanos plenos com base na religião, raça, ou
qualquer outra característica diferenciadora. Outras comunidades
religiosas têm também realizado avanços quanto a um consenso sobre a
afirmação de que a humanidade é em si mesma a fonte da universalidade
dos direitos humanos.
Essa compreensão parece ser condição sine
qua non em um discurso de direitos, com nuances culturais suficientes,
mas também capaz de conquistar a aceitação de um amplo espectro de
comunidades religiosas, étnicas e culturais.
Cristianismo, Fundamentalismos e Direitos
Humanos Religiosos: Missão, Perseguição e Tolerância
Os
direitos humanos religiosos, segundo muitos, devem estar no cerne de
qualquer regime viável de direitos interculturais. O direito à liberdade
religiosa, o mais antigo dos direitos humanos internacionalmente
reconhecidos, foi um alicerce da Paz de Vestefália (1648). Nos próximos
150 anos, um número de estatutos pioneiros na América do Norte e Europa
idolatraram a liberdade religiosa e, após a Segunda Grande Guerra, o
estatuto foi incluído na maioria das constituições em todo o mundo. Não
obstante, os direitos humanos religiosos permanecem vulneráveis a
diversas variáveis na terra: a história das relações entre a religião
e o estado, a estabilidade do regime político, o grau do pluralismo
religioso em âmbito local, bem como as atitudes e a influência política
da religião, ou religiões dominantes.
Atores
e instituições religiosos são defensores e violadores dos direitos
humanos religiosos. No século XX, cristãos, muçulmanos e judeus, por
exemplo, têm sido acusados de violarem os direitos humanos de outrem;
assim como os cristãos, muçulmanos e judeus pertencem a uma minoria de
perseguidos em alguma parte do mundo. As minorias muçulmanas na Europa
Ocidental, Iugoslávia, nos novos estados da Ásia Central, na Índia,
China e na Rússia; os cristãos no Egito, Sudão, Nigéria, Paquistão,
Índia e China; os judeus no Oriente Médio Árabe, na Europa e União
Soviética; baha’is no Irã; xiitas no Iraque e Líbano; tibetanos,
cambojanos e budistas Thai – esta é apenas uma lista parcial dos grupos
religiosos e indivíduos perseguidos ou que têm seus direitos civis
negados em virtude de suas religiões.
Durante
a “era dos direitos humanos”, os estados comunistas ateus da China e
da União Soviética reprimiram budistas, cristãos, muçulmanos, judeus e
outras minorias religiosas. Após o colapso da União Soviética, antigos
comunistas continuaram suas campanhas opressoras contra atores religiosos
nos novos estados da Ásia Central, enquanto que líderes comunistas no
Vietnã, China, Coréia do Norte e Cuba continuaram suas políticas de
perseguição religiosa, da era da guerra fria.
Em outros lugares, as religiões nacionalistas apoiaram a opressão mais
notória das minorias religiosas. Nas décadas de oitenta e noventa, muçulmanos
sudaneses sunitas engenharam a perseguição de cristãos, animistas e
seitas muçulmanas, enquanto que extremistas xiitas do Irã visavam os
baha’is e dissidentes xiitas. A notória Lei da Blasfêmia, do Paquistão,
que proscreve o proselitismo cristão e considera o discurso contra o
Profeta uma ofensa capital, refletiu e agravou as tensões sociais entre
muçulmanos e cristãos naquela sociedade muçulmana, onde numerosos cristãos
vêm sendo expulsos de suas cidades por multidões muçulmanas e têm
visto suas casas e igrejas serem destruídas.
Nacionalistas hindus da Índia formaram vanguardas jovens (RSS) dedicadas
a asseverar a hegemonia hindu sobre os muçulmanos e outras minorias
religiosas na Índia; as manifestações grupais e massacres organizados
contra os muçulmanos, em 1990-91, após a destruição da Mesquita de
Babri, em Ayodhya, foi fruto deste crescente nacionalismo religioso.
O
Cristianismo também contribuiu para um clima de discriminação religiosa
na antiga União Soviética e em partes da Europa – freqüentemente
apoiando ou defendendo a repressão de outros cristãos. Nos anos noventa,
a Igreja Ortodoxa Russa pressionou o estado pós-comunista russo a
discriminar contra minorias religiosas e a prevenir que outras igrejas e
organizações religiosas tentassem atrair seguidores. Na Rússia em 1997,
a lei de proteção à liberdade religiosa da Igreja Ortodoxa Russa, em
detrimento de todos outros credos, constituiu caso de política doméstica
que comprometia as normas dos direitos humanos universais. Da mesma forma, as
instituições religiosas estabelecidas na Europa, América Latina e no
Oriente Médio focalizaram sua ira na explosão das chamadas “seitas”
que competiam por fiéis em suas terras – uma variedade de grupos
religiosos que inclui a Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dia
(Mórmons), a Igreja da Cientologia, as Testemunhas de Jeová e os
movimentos cristãos evangélicos independentes. A Bélgica, França,
Alemanha e Áustria, em resposta aos relatos de supostas atividades de espécies
de cultos, estabeleceram comissões de inquérito sobre as seitas; na
Alemanha, a Enquette Commission sujeitou os membros da Igreja da
Cientologia e a comunidade carismática cristã a intensa investigação,
levando a alguns casos de assédio, discriminação e ameaças de violência
contra essas “seitas”.
O parlamento austríaco recentemente aprovou lei restringindo as minorias
religiosas, com base no julgamento do Governo sobre seu grau de
patriotismo e compromisso com a democracia.
Em
suma, as liberdades que religiões estabelecidas exigiam para si, elas
freqüentemente tentavam negar às outras “seitas”.
Apesar
de sinais de acordo formal e ação prática para definir e proteger os
direitos religiosos, existe uma variação substantiva na forma pela qual
as relações “igreja-estado” são institucionalizadas e a liberdade
religiosa observada em todo o mundo. Religiões e estados contribuem para
as limitações impostas aos direitos humanos religiosos. Algumas religiões
não aceitam o direito de abandonar e adotar outra religião, ou o direito
de permanecer sem uma religião; os estados onde tais religiões mantêm
controle consideram a apóstase ou a heresia crimes, punindo seus
detratores severamente. Outros estados exigem que indivíduos sigam passos
formais a fim de mudar sua filiação a comunidade e congregação
religiosas reconhecidas e, até mesmo criminaliza as tentativas de induzir
outras pessoas a mudarem suas religiões ou adotarem um grupo religioso
diferente. “No limiar de um novo
milênio”, escreve Natan Lerner, “a tolerância e o pluralismo estão
longe de se tornar uma realidade em muitas partes do mundo. A definição
do significado e das limitações exatas do direito de mudar uma religião
e do proselitismo é crucial para que se alcance maior tolerância e
pluralismo”.
“A Grande Comissão” e o Debate
Interno Cristão sobre os Direitos
O
Cristianismo encontra-se enredado num debate interno sobre como as
responsabilidades e os direitos humanos religiosos devem ser compreendidos
no contexto de seu compromisso histórico de realizar a Grande Comissão,
expressa por Cristo a seus apóstolos: “Portanto ide, e fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado”
(Mateus 28:19). O fantasma da perseguição religiosa de cristãos suscita
a questão fundamental dos direitos religiosos, incluindo a pergunta se há
um direito ao proselitismo e um direito correspondente de proteção ao
proselitismo.
Como
acontece com o Islã, há numerosas formas de Cristianismo no mundo, não
só as ramificações maiores como o catolicismo romano, o protestantismo
e o ortodoxo, mas uma variedade de orientações teológicas fundamentais
em cada uma, assim como numerosos grupos e movimentos que não se
enquadram em nenhuma dessas três divisões. As teologias da redenção têm
conseqüências sociais dramáticas. O ministro cristão coloca energia e
recursos na facilitação de reconciliação entre povos, ou ele “salva
almas” pregando aceitação da redentora morte de Cristo na cruz? Ambas
opções são plausíveis dentro de uma visão de mundo cristã, mas
expressam interpretações diferentes da vontade divina e de diversas
orientações para o mundo. Apesar de não serem mutuamente excludentes,
estas duas orientações cristãs básicas em relação ao mundo promovem
diferentes objetivos pastorais e métodos de lidar com conflitos. Dão
margem a pelo menos três enfoques básicos para a transformação de
conflitos, cada qual uma expressão de testemunho religioso vivido, cada
qual passível de produzir suas próprias e distintas conseqüências políticas
e sociais.
O
enfoque espiritualista vê o
compromisso com a transformação de conflitos como um mandato do
Evangelho auto-autenticador, um fim em si mesmo. Está arraigado nas tendências
progressistas ou “ecumênicas” que surgiram na linha central do
protestantismo, na década de 1920, e no catolicismo romano a partir de
1960. Fomentar o diálogo entre os povos é o modo fundamental da vida
cristã em cenários de conflito, para os grupos desta mentalidade.
Silsilah é um exemplo de um pequena rede de irmãs e leigas primariamente
cristãs romanas que vivem na ilha de Mindanao, ao sul das Filipinas e que
se dedicaram à reconciliação com os muçulmanos durante o final da década
de oitenta e, agora, nos anos noventa, uma época em que o extremismo
religioso ganhou representação na região. Tais grupos vêem a
reconciliação como uma espiritualidade, não como estratégia e muito
menos como um processo técnico ou profissional. Apesar de conhecedores da
literatura e de algumas das técnicas de resolução de conflitos, esses
grupos tendem a ter uma organização informal, de baixa manutenção,
seus membros freqüentemente vivem um estilo de vida apostólico de
pobreza ou humildade. Embora os espiritualistas deixem os resultados
concretos para o Espírito Santo, as relações que promovem entre antigos
e potenciais antagonistas podem contribuir para a estabilização das
sociedades transtornadas por desigualdades econômicas e tensões comunitárias.
Em anos recentes, algumas comunidades cristãs de paz afastaram-se de uma
confiança exclusiva neste enfoque, embora ele permaneça poderosamente
atraente por sua pureza de intenção e expressão espiritual. As históricas
igrejas cristãs da paz, por exemplo – a Sociedade dos Amigos (Quakers),
os Mennonitas e a Igreja da Irmandade – procuram manter o caráter e a
piedade desse enfoque muito embora tenham-se afastado na direção de uma
orientação de fins e de transformações do mundo.
Em
contraste aos espíritas, o modelo
de conversão procura trazer o mundo mais próximo da conformidade com
o reino de Deus em Jesus Cristo, primariamente divulgando mensagens de
salvação e, onde possível, convertendo pessoas ao Cristianismo. Missões
fundamentalistas, pentecostais e evangélicas conservadoras, da época da
guerra fria (e após), exemplificaram esta visão de mundo, assim como o
fazem os movimentos evangélicos nativos, tais como El Shaadai, os
chamados “fundamentalistas católicos” das Filipinas. Organizações
da igreja, ONGs e grupos pára-religiosos desta corrente tendem a contar
com organização estabelecida, recursos financeiros e sofisticação política.
Sua teologia de conflito difere daquela dos espíritas, que tendem a ser
pacifistas ou praticantes disciplinados da resistência sem violência.
Para os conversivos, o conflito pode ser inevitável em um mundo dividido
entre os filhos das trevas e os filhos da luz; “a guerra espiritual”
é tema comum.
Os
cristãos deste seguimento são aqueles que afirmam que o ato de proclamar
sua fé em foro público é um direito humano fundamental e apelam às
tradições de direitos humanos ocidentais e instrumentos legais que
tornem a missão de campo segura para seus trabalhos da ordem divina. Em
sua concepção, a “transformação do conflito” não é irrelevante,
mas assume uma finalidade distinta, ou seja, a de remover impedimentos ao
“livre mercado de idéias” e à liberdade de associações, de expressão
e religiosa. Os católicos romanos, os protestantes evangélicos, os mórmons,
os adventistas do sétimo dia e outros que continuam em suas missões de
conversão, continuam a arriscar suas vidas.
Embora
aderentes ao modelo libertário
também esforcem-se para mudar o mundo, eles procuram introduzir uma ordem
não-sectária e inclusiva de justiça social e econômica, que acreditam
ser condição sine qua non para
a paz duradoura. Católicos romanos progressistas e “libertários”,
evangélicos socialmente liberais e protestantes convencionais trabalham
para esse fim. Defensores de mudança estrutural em nome dos pobres e
marginalizados, eles freqüentemente servem a comunidades locais, não-cristãs
e cristãs, como educadores e, cada vez mais, como tutores na prevenção
e mediação de conflitos. A inovação dos libertários é o
“desenvolvimento holístico comunitário”, um enfoque que consiste de
se dar uma atenção cuidadosa às relações sociais entre membros da
comunidade de diferentes religiões, etnias e origens tribais, bem como a
suas necessidades espirituais e psicológicas, a suas variantes culturais
e às suas necessidades materiais. Neste contexto, a resolução de
conflitos está emergindo como um serviço e abilidade inestimáveis,
oferecidas por ONGs religiosas e missionários libertários.
As
evoluções do catolicismo romano durante a era dos direitos humanos
permitiram que a igreja aprimorasse sua compreensão da distinção entre
sociedade e estado e se aproximasse mais das diversas comunidades, formas
de associações e agências voluntárias do estado. Um desvio nesse
sentido ocorreu na atitude da igreja com relação aos não-católicos.
Antes da década de 1960, os católicos da América do Norte e Europa
demonstravam a vida missionária sem ambigüidades, como uma vocação
especial e distinta dedicada a “salvar almas” em terras estranhas,
onde aqueles que não eram batizados viviam na “ignorância invencível”
da morte redentora e da ressurreição de Cristo. Era, portanto, preciso
que uma pessoa “abandonasse a sua vida” para ser um missionário.
Ademais, o missionário era celebrado como um militante espiritual
preparado para suportar a prisão, tortura ou morte em território hostil.
A linguagem figurativa dos católicos americanos apresentadas em revistas,
cartas, catecismos e sermões durante as Grandes Guerras e na Guerra da
Coréia utilizavam imagens militares e mostravam de maneira realista a
pobreza, a fome, os inimigos e o possível martírio que esperavam o
missionário.
Nos
anos sessenta, contudo, apareceram sinais de uma mudança nas percepções
dos missionários e de suas vocações. Os missionários entenderam,
segundo Angelyn Dries, “que algumas das suposições acerca de seus
trabalhos eram na verdade antitéticas à formação de uma comunidade
cristã”.
Missionários franciscanos, de Maryknoll e outros católicos – padres,
irmãos, irmãs e, cada vez mais, leigos – começaram a ver “a missão”
como algo maior do que o batismo de povos nativos, do estabelecimento de
igrejas e da tabulação de número de convertidos com comunicadores;
estas medidas apenas não tinham garantido comunidades de paróquias
ativas. Entre alguns trabalhadores de campo a ênfase mudou dos trabalhos
institucionais tradicionais para serviços em escolas e hospitais a fim de
formar pequenas comunidades locais, à luz do Novo Testamento. Como
missionários – ou comissionados, como alguns preferiam ser chamados –
desenvolveram um respeito mais profundo pela integridade das culturas
nativas, os que os apoiavam em suas terras natais, na América do Norte e
Europa, começaram a conhecer mais sobre os povos que os comissionados
encontravam – suas culturas, sua vida social, atividade econômica, etc.
A
nova geração de comissionados sofreu influência das teologias católicas
de meados do século XX, que preparavam o caminho para a eclesiologia
inclusiva “Povo de Deus”, do Vaticano II e, eventualmente, para um
foco na incultura do Evangelho.
O Segundo Concílio do Vaticano, embora reafirmasse a necessidade do
batismo cristão para a salvação, reconheceu que as pessoas têm uma
vida moral mesmo desconhecendo o Deus cristão. Ad
Gentes, decreto do Concílio sobre a atividade missionária, declarou
que “a Igreja na terra é por sua própria natureza missionária”, mas
apresentou uma avaliação positiva de outras religiões e falou de uma
“presença secreta de Deus” entre os povos de outras tradições
religiosas.
Uma vez que o centro de atenções mudou do missionário para o trabalho
de Deus junto a todos os povos, a linguagem da conversão foi gradualmente
substituída em documentos oficiais, encorajando-se o diálogo solene com
seguidores de outras religiões.
Nos
anos setenta e oitenta, o impacto dessa nova orientação provocou várias
reformas específicas. As palavras apostolado
e missões foram omitidas e
substituídas por missão. Uma
sensibilidade maior para a igualdade de gênero, assim como para os
missionários leigos e os costumes locais levaram a uma revisão dos
respectivos deveres, responsabilidades e privilégios dos padres, das
mulheres religiosas e dos leigos; programas novos ou atualizados de
treinamento de línguas e programas de formação de leigos resultaram
dessa nova visão. A colaboração aumentou dramaticamente entre teólogos
e congregação de religiosos norte-americanos, europeus,
latino-americanos, asiáticos e africanos. A antropologia cultural foi
introduzida nos currículos dos missionários, assim como teólogos e
teologias não-ocidentais, promovidos e publicados pela editora Orbis
Books (fundada em 1970 pelos missionários de Maryknoll em resposta à
nova ênfase da globalização), tornaram-se leitura obrigatória nos
cursos das missões católicas.
O
Pontífice João Paulo II, que se tornou Papa em 1978, tem testemunhado
uma reavaliação parcial das novas orientações em missiologia,
inspirada na preocupação de que os católicos liberais podem ter ido
longe demais em termos de um avanço inter-religioso e tenham obliterado
as distinções entre o catolicismo romano e outras crenças. Apesar de
ter empreendido iniciativas ecumênicas e inter-religiosas significativas
durante seu pontificado – encontrando-se pessoalmente com líderes
luteranos, anglicanos e ortodoxos, por exemplo, como também forjando
novos laços com o judaísmo – o Papa também achou necessário lembrar
aos missionários e educadores católicos que Jesus não deve ser
comparado com outros fundadores de religiões de forma que o relativize ou
eufemize as distintas e, de fato, exclusivas afirmações do Cristianismo.
Os cristãos engajados em um tipo de diálogo que acompanha a evangelização
católica autêntica, insistiu João Paulo II, devem manter seu firme
compromisso com a natureza singular de sua tradição religiosa, inclusive
suas afirmações de uma verdade não-negociável.
O
catolicismo romano não estava sozinho entre as igrejas cristãs engajadas
em debate interno sobre a relação adequada entre fé, proselitismo e
missão internacional. De fato, protestantes evangélicos e católicos
conservadores tinham preocupações sobre o relativismo e emitiram declarações
conjuntas em apoio à evangelização e “testemunho da fé em meio ao
ambiente cultural hostil” que os cristãos enfrentavam, nos seus países
e no mundo.
Eles apontavam com desaprovação os protestantes convencionais e os católicos
liberais como tendo redefinido o evangelismo, concluíram os
conservadores, de forma a enfraquecer sua finalidade ostensiva – a
conversão de não-cristãos ao Cristianismo.
As
energias de evangélicos norte-americanos, dedicados à conquista de almas
durante a guerra fria não encontraram contrapartida nos protestantes
convencionais – congregacionalistas, presbiterianos, episcopais e outros
cristãos pertencentes ao que Martin E. Marty identificava, em 1973, como
as denominações do “velho domínio”, igrejas que “originalmente
tomavam a responsabilidade de relacionar, de forma positiva, a religião
à cultura”.
O protestantismo convencional havia dominado o movimento da missão
estrangeira, no século XIX e na primeira metade do século XX, mas o número
de missionários de carreira apoiados por aquelas igrejas caiu de 10.000
para 3.000, entre 1935 e 1980. Os evangélicos, entretanto – batistas,
metodistas, presbiterianos, “independentes” e outros que haviam
abandonado as igrejas convencionais, no início do século XX, em reação
ao modernismo teológico e outros “compromissos” com a cultura
convencional cada vez mais secular – colocavam a Grande Comissão e a
conquista de almas exatamente no centro da identidade cristã. Eles
amplamente compensaram o decrescente interesse dos “ecumênicos”, como
os protestantes convencionais foram denominados: de meados da década de
1930 em diante, os evangélicos lideraram um grande aumento no número de
missionários norte-americanos – de 11.000 para 35.000, até 1980.
A
maior mudança na iniciativa missionária norte-americana começou na década
de 1940, quando os fundamentalistas e outros evangélicos desenvolveram o
que chamaram de “visão de mundo” – “a completa evangelização do
mundo durante nossa vida”.
Após a Segunda Guerra Mundial, juntas de missionários conservadores
denominadoras e sociedades de missionários não-denominadoras da “fé”,
buscando inspiração na vitória dos Aliados, patrocinou uma explosão de
missões internacionais. Agências de missões, tais como a Associação
de Missões Estrangeiras Evangélicas, patrocinadas pela Associação
Nacional de Evangélicos, recrutaram pilotos que haviam voltado da guerra
e compraram aviões de bombardeio B-17 para levar provisões e
“tropas” de missionários à América Latina, Europa e outros
“teatros” missionários da pós-guerra. Milhares de estudantes evangélicos
de instituições de terceiro grau, tais como Wheaton College e Columbia
Bible College (South Carolina) alistavam-se na Fraternidade Missionária
Internacional para divulgar o Evangelho no Japão, China e outras partes
da Ásia. O impacto cumulativo dessa atividade evangélica de pós-guerra
constituiu, nas palavras do historiador Joel Carpenter, “o grande
impulso de crescimento na carreira de dois séculos das missões
modernas”.
Donald
McGavran, missionário protestante norte-americano na Índia, que foi
arrebatado pelo renascimento evangélico de pós-guerra, acreditou que
castas, tribos ou grupos homogêneos, nas sociedades não-cristãs do
Terceiro Mundo, fossem capazes de adotar o Cristianismo no âmbito de suas
espiritualidades tradicionais. Depois de 1965, quando McGavran começou a
ensinar suas teorias sobre o crescimento da igreja, na Fuller School of
World Mission, missionários fundamentalistas e outros missionários evangélicos
norte-americanos pararam de subestimar as crenças dos povos nativos sobre
o mundo espiritual, a cura mágica e da fé, e começou a incorporar o
“O Evangelho Pleno” – a insistência cristã pentecostal de que a
vida do fiel em Jesus Cristo significa tanto compartilhar de seus poderes
sobrenaturais como obedecer seus mandamentos e professá-lo como Deus –
no alcance missionário. Este pequeno empréstimo de inspiração de seus
correligionários evangélicos – os pentecostais imbuídos do espírito
– tornou o evangelismo uma força missionária mundial mais efetiva. Por
volta de 1984, Fuller oferecia cursos de missões que integrava métodos
padrões de evangelização integrados com o Evangelho Pleno; um desses
cursos, que incluíam oficina sobre milagres, tinha o título de
“Sinais, Maravilhas e o Crescimento da Igreja”.
O
renascimento evangélico levou também a outros tipos de diversificação
na missão internacional. Bob Pierce, organizador da Juventude por Cristo,
em Seattle, liderou grupos de pregadores em viagens através da Índia e
China, no final da década de 1940; numa visita de retorno à Ásia, a
partir de 1950, ele passou algum tempo na Coréia, durante a guerra, e
retornou dessa experiência transformado pelo sofrimento e a necessidade
espiritual que encontrou. Depois de organizar, com êxito, manifestações
da “Visão do Mundo” (“World
Vision”) para oferecer apoio financeiro à presença missionária no
sudeste da Ásia, Pience fundou a World Vision, Incorporated, uma organização
inovadora estruturada para combinar proselitismo com trabalho de assistência
profissional.
Hoje a World Vision é uma das maiores agências de assistência
desenvolvimento no mundo. Como a Catholic Relief Services – CRS (Serviços
Católicos de Assistência), tem ajudado a amenizar o impacto das reduções
de ajuda externa, ocorrida enquanto o Governo dos Estados Unidos recuava
de seu nível de assistência internacional da pós-Segunda Guerra Mundial
e da era do Plano Marshall. Tanto a CRS quanto a
World Vision receberam um capital substantivo do financiamento alocado
pelo Título IX, do Governo norte-americano, e foi exigido que elas
passassem sob numerosos critérios profissionais “seculares” para
recebê-los. Ambas agências de inspiração religiosa transformaram-se em
sofisticadas operações de assistência e desenvolvimento. Seus intrépidos
membros ofereciam conhecimento técnico e cultivavam a liderança nativa
para milhares de comunidades locais, em todo o mundo, que sofriam com
recursos naturais subdesenvolvidos, irrigação inadequada e outros
sistemas de apoio à agricultura, como também com o analfabetismo, ou
falta de instrução ou influência no que tange aos instrumentos
financeiros, tais como empréstimos bancários de baixos juros. No
entanto, diferentemente da CRS, que constituiu seu pessoal profissional
nos anos setenta e oitenta, contratando os melhores formandos de
universidades disponíveis, sem levar em conta seu compromisso religioso
com o catolicismo (ou qualquer outra crença religiosa), a World Vision
conseguiu manter sua identidade explicitamente cristã e evangélica através
dos anos de evolução e crescimento organizacional. Embora a maioria dos
programas internacionais da World Vision se enquadrem nas categorias-padrões
de assistência e desenvolvimento seculares, a ONG também destina
recursos e programas ao “Evangelismo e Liderança” e trabalha
juntamente com comunidades locais cristãs, nos Estados Unidos e em outros
países, para estabelecer parcerias duradouras entre as igrejas e as operações
de assistência, treinando membros da primeira para se tornarem líderes
da segunda.
CRS, por sua vez, somente recentemente (e instigada pelos bispos católicos
dos Estados Unidos) procurou fomentar desenvolvimento comunitário mais
abrangente, que seja cultural e religioso, social e econômico, em sua
natureza. Esse passo coloca desafios financeiros e profissionais para a
CRS em sua tentativa de expandir seus recursos para atender a uma maior
gama de necessidades sociais.
A
World Vision e a CRS, de formas diferentes, trazem de volta a questão de
proselitismo e direitos religiosos. Com base em entrevistas com membros de
ambas ONGs religiosas, acredito poder dizer que há um espírito de
colaboração bem como de competição entre elas, devendo-se esta às
suas diferentes visões de mundo cristãs e agendas correspondentes para o
desenvolvimento de comunidades. A World Vision é, sem apologias, mais
confissionária em seu enfoque, vendo o proselitismo específico –
testemunho dos valores do Evangelho em seu trabalho humanitário e através
da formação da fé explícita em algumas comunidades cristãs – como
central à sua identidade e visão. A CRS é menos comprometida com a
proteção da identidade católica romana, propriamente dita, e reflete
entre seu pessoal atualmente preocupado com a questão (ainda uma minoria
na organização) o enfoque católico progressista da missão delineada
acima, na qual o diálogo ecumênico, inter-religioso e intercultural tem
prioridade sobre a formação de uma comunidade religiosa em particular.
O
compromisso religioso da World Vision e a ênfase incipiente da CRS na
doutrina social católica colocam essas ONGs religiosas em posição de
oferecer poderosa contribuição para a formação de culturas de paz
locais. Enquanto os governos recuam de seus papéis, “é bastante plausível
que organizações de cunho religioso possam se tornar o único grande
setor de financiamento e promoção de iniciativas de desenvolvimento”,
observa Judith Mayotte. Quando tais organizações recorrem a suas raízes
religiosas para efetuar transformação social, acredita Mayotte, elas
tendem a encorajar a comunidade local a “basear suas escolhas de
desenvolvimento em seus [próprios] valores mais profundos, inclusive os
direitos humanos”.
Esta
afirmação é correta, entretanto, quando uma ONG religiosa está
comprometida com a construção da igreja como também com o
desenvolvimento da comunidade? Em alguns casos, há pouca ou nenhuma tensão
entre estes dois objetivos: o fortalecimento da igreja, sem coação, é
indubitavelmente o melhor caminho para o desenvolvimento da comunidade. Em
lugares onde existe uma intensa competição religiosa, ou onde a religião
predominante é intolerante com estranhos, contudo, “o fortalecimento da
igreja” pode adquirir a conotação de proselitismo indesejável,
gerador de conflito. O teste da World Vision e outras ONGs religiosas é a
sua abilidade de diagnosticar o ambiente social e cultural e adaptar sua
“missão” adequadamente a fim de evitar a possibilidade de incitar
conflitos mortais. Infelizmente, alguns cristãos vêem tais conflitos
como o preço de permanecerem fiéis à Grande Comissão.
A
relação entre as ONGs cristãs com a divulgação do Cristianismo evangélico
na América do Sul, sub-Sahara da África e sudeste da Ásia – e as
conseqüências sociais do próprio renascimento evangélico – são
pontos questionáveis. Alguns acreditam que as formas do novo evangelismo
fomentam condições sociais conduzentes à democracia e ao crescimento
econômico, à crítica inflamada daqueles que o vêem como um agente de
autoritarismo político, imperialismo cultural norte-americano, e intolerância
religiosa. No primeiro caso, o sociólogo David Martin afirma que enquanto
o pentecostalismo tem ganho número significativo de seguidores
convertidos do catolicismo romano, especialmente no Brasil, Chile, Nicarágua
e Guatemala, a nova corrente do protestantismo lembra fortemente os
primeiros estágios do metodismo na Inglaterra e América, com uma
diferenciação mais avançada entre as esferas religiosas e políticas.
Fortemente suspeitando da política em virtude de pagarem o preço da
corrupção política por muitas décadas, muitos predicantes
latino-americanos adotaram uma visão apocalítica que se resumiu a “um
recuo conservador do compromisso com a “libertação”. Os pentecostais
absorveram as energias dos movimentos progressistas e revolucionários e
os canalizaram para programas de auto-ajuda social e econômica, realizável
em assistência econômica mútua, terapia comunitária, locais de lazer e
esquemas de segurança”.
Outros
estudiosos do renascimento evangélico apresentam uma geneologia alterna e
analogia histórica para explicá-lo. “As grandes igrejas
neo-pentecostais independentes que estão estabelecendo as tendências
globais de culto e crença são essencialmente igrejas da promessa divina
calvinista pentecostal”, alegam Steven Brouwer, Paul Gifford e Susan D.
Rose. Menos uma forma de resistência do que um recuo para um silêncio
apolítico, a expressão neo-pentecostal de não-violência cristã,
afirmam seus críticos, mantém regimes injustos e opressores no poder. Em
alguns casos, tais como nas Filipinas, pregadores neo-pentecostais
endossam ou tornam plausível uma identificação da “Pax Americana”
da pós-Guerra Fria com a vontade divina. Essas igrejas e organizações
neo-pentecostais, compostas em sua maioria por “pessoas sinceramente
religiosas oriundas das classes média e mais pobres”, não operam sob a
direção das classes de elite ou de corporações transnacionais. Elas
ensinam lições de disciplina religiosa e social às culturas que estão
sendo subjugadas pelas “forças da industrialização e do capitalismo
de consumo”. No entanto, os novos pentecostalismos da América Latina,
do sub-Sahara da África e do sul da Ásia “estão tendo um efeito
profundo na promoção de uma aceitação das normas culturais
norte-americanas e do tipo de ordem cívica e psíquica que não questiona
o governo dos poderosos”.
A
cura religiosa e a piedade centrada no Espírito dos pentecostais
adaptaram-se prontamente às formas religiosas nativas não só no
sub-Sahara da África, mas na América Latina e partes da Ásia, onde
evangélicos nas décadas de 1980 e 90 anteciparam o nascer de um novo milênio,
proclamando a “Terceira Vaga” do Espírito, em que sinais, maravilhas
e milagres estimulam os fiéis a empreender uma batalha espiritual com o
demônio em antecipação ao retorno triunfante de Cristo à terra. Na Coréia
do Sul, por exemplo, o ministro pentecostal coreano Paulo Yonggi Cho
apropriou-se da idéia da “Terceira Vaga” como uma estratégia de
crescimento para a igreja. Sob sua liderança carismática, a mega-igreja
independente transformou-se na forma organizacional pentecostal
predominante do sudeste da Ásia. O próprio Cho é pastor da maior igreja
no mundo, a Igreja Central do Evangelho Pleno de Yoido de Seul, que
registrou mais de oitocentos mil membros em meados dos anos noventa.
Em
face a esta diversidade em todas as regiões do mundo, poucas, se algumas,
generalizações sobre o pentecostalismo e as conseqüências sociais das
missões protestantes oferecem um guia confiável sobre a situação na
terra. A afirmação de que o renascimento protestante, no mundo em
desenvolvimento, geralmente fomenta apatia política ou passividade, por
exemplo, apesar de correta em muitos casos, não mais se aplica a partes
da América Central, onde a Igreja de Deus tornou-se uma forte presença
missionária. No final da década de oitenta e nos anos noventa, os
missionários da Igreja de Deus na Guatemala, apesar de ainda manterem a
centralidade do “batismo no Espírito Santo” e uma disciplina moral
estrita para o fiel, treinava os ministros locais sobre o “Evangelho
social” – os princípios da obrigação, fundamentada na Bíblia, de
buscar a justiça social – aumentando a conscientização de
desigualdades sociais, suas conseqüências e meios de resolvê-las. Em países
como a Nicarágua e Costa Rica, onde a organização política era menos
perigosa, vários pentecostais bíblicos e evangélicos aliaram-se aos
movimentos políticos progressistas. Na Guatemala, entre as comunidades
pobres de índios e de habitantes de cidades, os pesquisadores encontraram
igrejas protestantes de tradições ortodoxas que lembravam “comunidades
de base” de catolicismo popular, com suas leituras socialmente
progressistas da Bíblia, a ênfase na igualdade de homens e mulheres e vários
tipos de arranjos cooperativos econômicos compatíveis com a tradição
comunitária Maya. Esses fenômenos, segundo Brouwer e outros, são menos
isolados em partes do mundo como a Coréia do Sul, as Filipinas, o sul da
África, onde uma maior abertura política levou alguns evangélicos e
pentecostais a unirem-se a outros protestantes e católicos na luta contra
regimes ditatoriais, pela democratização.
Duas
generalizações sobre as novas formas de renascimento protestante são
particularmente relevantes para os prospectos do Cristianismo evangélico
e fundamentalista como agente dos direitos humanos. Consideradas
juntamente, essas generalizações parecem paradoxais. Por um lado, os
movimentos e igrejas pentecostais e neo-pentecostais tendem a ser
anti-ecumênicos; no mínimo, não são conhecidas por uma abertura, ou
cooperação e colaboração com outras entidades religiosas além do círculo
carismático, muito menos com grupos e organizações religiosas não-cristãs.
Ambos os tipos de “estranhos” são percebidos como necessitando o
“Evangelho Pleno” para que não se tornem (ou permaneçam) agentes
espirituais do Inimigo.
Por
outro lado, a maioria de pentecostais no mundo são mulheres e elas
firmemente articularam uma identidade religiosa que abjura violência,
quer na política doméstica quer entre nações. Como outras formas de
protestantismo evangélico, o patriarcado faz parte da visão de mundo
religiosa e o pentecostalismo, em sua grande parte, não aceitou ou
acomodou o movimento feminista. Contudo, o pentecostalismo está menos
comprometido historicamente com o papel dos gêneros do que o
fundamentalismo ou outras formas de Cristianismo evangélico, sendo que
alguns dos líderes mais proeminentes daquele movimento são mulheres.
Entretanto, o papel das líderes religiosas pentecostais na África, América
Latina e Ásia é pouco conhecido e, portanto, merecedor de estudo. Um
outro tópico que exige investigação mais aprofundada é a ênfase moral
pentecostal na necessidade de restringir a violência no próprio ser e de
evitar a violência do cenário político. O pentecostalismo é, em suma,
uma tradição religiosa capaz de se tornar um celeiro poderoso de atores
religiosos dedicados à resolução de conflitos e guardiães da paz, em nível
local?
Conclusão
Cada
religião (e suas correntes específicas ou sub-tradições) justifica e
defende os direitos humanos de maneiras distintas e com seus próprios
termos. Cada uma tem sua própria estrutura teológica e filosófica para
a interpretação dos direitos humanos, sua própria constelação de
doutrinas e preceitos que modificam o cânone de direitos e seus próprios
modelos e defensores dos direitos humanos. As respectivas estruturas,
doutrinas, ou modelos de emulação não são prontamente reconciliáveis
em cada aspecto; mesmo onde religiões diferentes proclamam essencialmente
as mesmas verdades fundamentais iluminadoras, esta unidade básica não é
sempre transparente para si mesmas, ou para outros. O desafio da próxima
fase na era dos direitos humanos está em que líderes religiosos dessas
diferentes religiões e sub-tradições identifiquem e ampliem os princípios
comuns que eles compartilham.
O
discurso dos direitos humanos forma uma ponte que liga o particular ao
universal. Os atores religiosos engajados na transformação de conflitos
tem no “debate dos direitos” uma poderosa ferramenta para desmantelar
os elementos explosivos da linguagem religiosa de primeira ordem e elevar
a memória, o testemunho e a experiência além do mero sectarismo.
Ressituando relatos particularistas dentro de um discurso mais amplo, ou
mesmo global, ao qual todos os lados conflitantes possam apelar, constitui
um meio potencialmente poderoso de redirecionar as paixões de expressões
estritamente tribais ou extremistas. A linguagem de deveres-e-obrigações
de segunda ordem nunca substituirá a linguagem primária da comunidade
religiosa; comunicadores sem a preparação adequada podem apresentá-lo
desapropriadamente para parecer rígido, remoto ou condescendente. Para
ser utilizado efetivamente, o discurso dos direitos humanos não pode
ater-se à superfície do que indivíduos e comunidades consideram
sagrados. Mas nas mãos de um tradutor fluente, que pode compreender as
sensibilidades dos fiéis ao mesmo tempo que pesa sua conduta à luz das
normas universais, o discurso dos direitos humanos pode ser um poderoso
instrumento de mediação.
Finalmente,
as tradições religiosas com forte alcance missionário deve promover
conhecimento de missões, ou teologias de missão, que fomentem o respeito
pelas normas dos direitos humanos, inclusive o direito à liberdade
religiosa. Todas as liberdades religiosas, por sua vez, devem estimular a
prática da tolerância cívica com religiosos de crenças diferentes,
incluindo os predicantes e os proselitistas entre eles. Os líderes
religiosos devem dar prioridade ao estabelecimento e apoio ao diálogo
ecumênico e inter-religioso bem como às iniciativas de cooperação em
áreas locais e regionais de conflito religioso e étnico. Cada uma dessas
tarefas depende da disposição e abilidade das autoridades religiosas,
educadores e líderes comunitários de extrair, articular e aplicar
conceitos, normas e práticas religiosas que promovam os direitos humanos
e a transformação de conflitos pela não-violência.
|