|
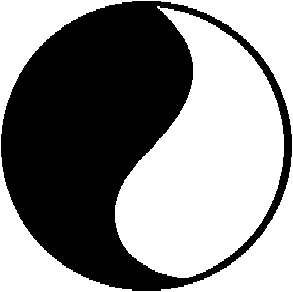
GÊNERO
O
QUE É ISSO?
Aceitando
o desafio que é discutir um tema tão complexo e ainda não
bem delimitado pelos vários ramos das ciências, sejam
elas humanas ou naturais, propomo-nos rastrear o conceito
GÊNERO, no âmbito do seu significado lingüístico,
passando pela utilização do termo pelos movimentos das
mulheres e pela Academia. Neste caminhar, percebe-se uma
articulação entre movimentos sociais, especificamente o
Feminismo, e as concepções teóricas emergentes no
Brasil hoje.
Os
Significados: gênero, masculino/feminino, homem/mulher:
o dicionário
da língua portuguesa...
De
uns anos para cá, começou-se a escutar algumas pessoas,
tanto no movimento de mulheres quanto na Academia,
dizendo: “O Gênero
dentro do trabalho...” “O Gênero e a Política...”
“A construção de Gênero...”. Mas, afinal que gênero
é esse? Será algo divino da Lógica e significando
“classe cuja extensão se divide em outras classes, as
quais, em relação à primeira, são chamadas espécies?”
Ferreira (1986, p.844). se formos nos guiar por esse
sentido, teríamos as espécies homem e mulher da chamada
classe humana. Ainda, segundo o lingüista Ferreira, o
termo Gênero também poderia ser “qualquer agrupamento
de indivíduos, objetos, idéias, que tenham caracteres
comuns” (p.844). teríamos assim indivíduos dos dois
sexos, de novo o homem e a mulher agrupados, agregados
através de características comuns, ou seja, o feminino
para a mulher e o masculino para o homem. Prosseguindo com
a nossa língua portuguesa, esses caracteres comuns seriam
convencionalmente estabelecidos. Este convencionalmente
pode ir desde maneiras, estilos, significando os Gêneros
artísticos ou se referir aos estilos de arte: o Gênero
Literário e Gênero Dramático. Pode-se buscar o
significado do termo ainda na Biologia ou no campo da Gramática
propriamente dita.
Chegamos
assim à definição de Ferreira (1986) do termo do ponto
de vista gramatical no seu sentido estrito. Encontramos,
então, a seguinte definição: “categoria que indica,
por meio de desinência, uma divisão dos nomes baseada em
critérios tais como sexo e associações psicológicas”
(p. 844)neste sentido, o autor aponta o Gênero masculino,
o feminino e o neutro. A partir disso, passamos a nos
perguntar, mas afinal que Gênero é esse, que além de
propiciar interpretações das mais diversas, dependemos
da ótica de quem busca seu significado de costumes/idéias?
Se
caminharmos por este último sentido (costumes e idéias),
vamos chegar ao significado do chamado Gênero de Vida,
expressão que designa o “conjunto de atividades
habituais, provenientes da tradição, mercê dos quais o
homem assegura a sua existência, adaptando a natureza em
seu proveito” (p. 844-845).
A
definição de Gênero torna-se, assim, complicada, pois
além de apresentar vários significados, agrega em seu
bojo os sentidos mais amplos ligados a “caracteres
convencionalmente estabelecidos”, bem como a
“atividades habituais decorrentes da tradição” (p.
844). Por outro lado, a espécie humana se comunica e
estabelece linguagens, sejam faladas, escritas ou
gestuais, constituindo-se em representações sociais que,
segundo Lane, são esperadas pelo grupo: “esta análise
nos permite apontar uma função da linguagem que é a
mediação ideológica inerente nos significados das
palavras, produzidas por uma classe dominante que detém o
poder de pensar e ‘conhecer’ a realidade, explicando-a
através de ‘verdades’ inquestionáveis e atribuindo
valores absolutos...” (1984, p. 34).
Voltando
então para a lingüística, vemos que os significados são
representações de culturas dominantes. Se as características,
que dominam o termo Gênero, têm que ser “comuns
convencionalmente estabelecidas” Ferreira, 1986, p.
844), elas vão passar pelos padrões estabelecidos. Só
assim entende-se, prosseguindo na busca do significado e
adentrando ainda mais na gramática na busca do sentido de
masculino e feminino, o que seriam os dois sexos em que a
sociedade normalmente divide os seres humanos. Não esqueçamos que existe o Gênero
neutro... Mas, examinando o que determina o dicionário,
encontramos o significado de Masculino: “diz das
palavras ou nomes que pela terminação e concordância
designam seres masculinos ou como tal considerados”
(Ferreira, 1986, p. 1099). Já para o Feminino, nos revela
a bondosa gramática: “diz-se do gênero de palavras ou nomes que,
pela terminação e concordância designam seres femininos
ou como tal considerados” (p. 768). O que fazemos então
com o neutro do Gênero que, para Ferreira, “diz-se do gênero
de palavras ou nomes, que em certas línguas, designamos
serem concebidos como não animados, em oposição aos
animados, masculinos e femininos”? (p. 1191). Como
explicar, então, ainda que a determinação de feminino
também designe, no sentido figurado, efeminado, adamado e mulherengo?
Se
prosseguirmos pelos caminhos da língua brasileira,
buscando o sentido do termo, vamos muito mais além, pois
através destas considerações já se percebe o quanto
que a língua reflete a construção cultural do povo que
a nomeia, a partir da dominância de características
comuns, representações sociais que nos atravessam a nós,
indivíduos, às instituições sociais, como escola,
igreja, direito etc., às normas e valores sociais instituídos
socialmente e expressos em códigos de comportamento
sociais. “Mas a instância psíquica que mais depende
das circunstâncias históricos-sociais é o superego,
este grande assimilador das normas e valores vigentes,
este regulador do comportamento (através do ego, que se
comunica com ele) de acordo com o que cada cultura
considera reprovável ou desejável. Assim, embora uma
grande parte do que move as pessoas – a matéria
instintiva que constitui as paixões, seja inerente ao que
venho chamando condição humana, a forma que as paixões
adquirem, a maneira como se expressam, a valorização
positiva ou negativa de cada uma delas, tudo isso está
permeado por esta modalidade de expressão de consumo e de
visão do mundo de cada cultura que costumamos chamar
ideologia” (Kehl, 1992, p. 485).
Os
sentidos dicotomizados da língua, expressando valorações,
fazem com que o mesmo termo Mulher
acabe sendo apreendido também ou como Santa
e reprodutora ou
como Prostituta.
Se olharmos de novo o dicionário e tentarmos encontrar o
significado de mulher, nos depararemos com a seguinte afirmação: “O ser humano
do sexo feminino capaz de conceber e parir outros seres
humanos e que se distingue do homem por essas características”
(Ferreira, 1986, p. 1168). Encontramos ainda as designações
“Mulher à toa”, “Mulher de comédia”, “Mulher
de rótula”, “Mulher de rua”, ”Mulher da vida”,
“Mulher de amor”, “Mulher de má nota”, “Mulher
de ponta de rua”, “Mulher de fado”, “Mulher de
fandango”, “Mulher de mundo”, ”Mulher do pala
aberto”, “Mulher errada”, “Mulher fatal”,
“Mulher perdida” e “Mulher vadia”. De todas as
dominações de mulheres que o lingüista assinala,
somente duas não têm o significado assinalado como Meretriz!
(grifo meu): “Mulher de César” e “Mulher de
piolho” (p. 1168).
Já
para o significado do Homem, o dicionário aponta
“qualquer indivíduo pertencente à espécie animal que,
apresenta o maior grau de complexidade na escala
evolutiva, o ser humano” dotado “das chamadas
qualidades viris, como coragem, força, vigor sexual etc.,
Macho – homem que é homem não leva desaforo para
casa” (Ferreira, 1986, p. 903). Entre os sentidos, tipos
de dominação de homem, não existe nenhuma designação
que tenha sentido pejorativo ou signifique o gigolô. Pelo
contrário, todos os sentidos do termo seguem no rumo da
definição geral, de “alguém que apresenta um maior
grau de complexidade na escala evolutiva” (Ferreira,
1986, p. 903). Então, aqui percebemos que temos mais do
que uma dualidade de sentidos: nós temos, na verdade, um
diferencial de pesos/poderes
para os termos de Mulher e Homem. A Mulher, no sentido da
construção da língua, do significado social do termo
que a deveria nomear, só existe como Meretriz ou
Reprodutora, não tendo função social fora dessas
denominação. Vemos, então, que não é de graça que um
estudioso como Lacan diz “a Mulher não existe”.
Quando ele se refere a esse anunciado, diz que
feminilidade se coloca na categoria do inominável,
revelando a importância do saber para nomear o feminismo
como tal (Almeida, 1992, p. 15).
Movimento
de Mulheres / Movimento Feminista – E o Gênero?
Dois
mil e quinhentos anos de civilização, a partir do apogeu
grego trazem em seu bojo todo um legado cultural. O imaginário
humano foi sendo povoado por “uma gama imensa de mitos,
cosmogonias, seres folclóricos etc. A posição e o papel
da mulher em meio a este circuito acabam sendo expressos
através desses mitos inscritos no imaginário”
(Almeida, 1992, p. 15).
Ao
enveredarmos ainda pela identificação do Gênero e
procurarmos compreender o seu significado, no campo da
construção teórica e da sua relação com o Movimento
de Mulheres/Movimento Feminista, vemos que, há cerca de
duas décadas, um furor feminino atacou diversos campos do
saber, ligado principalmente ao Movimento Feminista. Este
furor representava tentativa(s) de dar estatuto de saber
à vivência e estudos sobre a mulher. Era a época de visibilizar
um segmento que se encontrava embutido
sempre no geral: a história da classe trabalhadora, a força
de trabalho na indústria etc. De uma certa maneira
caminha-se no campo teórico com passos
ligados/interligados aos movimentos que se gestavam no país,
pós-anos 70. A luta pela abertura política no Brasil
trouxe uma reflexão também na condição feminina, que
teve um impulso maior no país com a instauração da Década
da Mulher pela Organização das Nações Unidas, de 1975
a 1985. Com a vinda de militantes exiladas pelo regime
ditatorial, a discussão sobre o feminino/feminismo se
acentuou ainda mais, já que em outros países a discussão
sobre a opressão feminina se encontrava em estágios bem
avançados, enquanto no Brasil ainda engatinhávamos no pós-abertura.
Os encontros/desencontros de militantes
latino-americanas(os), com inglesas (es), francesas(es),
alemãs(ães) com essa reflexão/discussão de um certo
pensar a mulher possibilitaram modificações também no Brasil. Surge daí a
afirmação primeira do movimento feminista brasileiro, ou
sua primeira fase: viabilizar o feminino enquanto elemento
qualitativo e constitutivo da população e das instituições
brasileiras.
O
período correspondente a esta fase vai dos anos 80 a 85.
Afirma-se assim, tanto no âmbito da Academia quando dos
movimentos, temáticas que levassem em conta a “importância
da participação das mulheres no seio de
partidos/sindicatos, movimentos de bairros/instituições
em geral etc. (...) Visualiza-se a mulher, com esta
perspectiva, dentro dos movimentos gerais, tentando
apontar para a ocupação de um segmento importante e,
qualitativamente, numeroso no âmbito do “Macrossocial,
ou seja, ‘Mulher: Participação e Representação Política’,
podendo ser este o slogan deste período”(Bandeira e
Oliveira, 1990, p. 5).
Um
segundo momento nessa história da construção do
conceito de Gênero no seio dos movimentos sociais e da
Academia, poderia ser agregado ao slogan dos grupos de
reflexão feminista, que proliferaram no país pós-80:
“o cotidiano é político’. Gestava-se uma outra
necessidade dentro dos diversos movimentos. Era necessário
mais do que visibilizar a Mulher. Precisava-se entender o Sujeito Mulher, a Identidade Feminina, desvendando as relações do
cotidiano. Não havia, neste momento, tanta preocupação
com os interlocutores, a idéia era soltar as idéias
no ar. Havia, por um lado, resistência social e acadêmica
a estas idéias e, por outro, as mulheres feministas, na
busca de tentar entender a especificidade do ser mulher,
ainda se colocavam nos seus guetos. Essa atitude visava
poder responder as inúmeras provocações por parte dos
companheiros que, reafirmando a assimetria do masculino e
feminino na sociedade, afirmavam, por exemplo, que a
compreensão do surgimento do movimento operário
brasileiro não mudou porque souberam que as mulheres
participaram da sua formação. Esta fase, ou segundo
momento, compreendeu o período que foi de 1985 a 1988.
Um
terceiro momento compreende o período de 1989 até os
dias atuais, no qual a discussão do feminismo busca lutar
contra guetos e resgatar aliadas(os). Se os movimentos de
mulheres feministas tinham descerrado os véus da invisibilidade
no seio dos movimentos sociais, se tinham buscado um
Estatuto Científico para os estudos sobre a Mulher, ainda
assim se encontravam nos Guetos. Embora politizando os
espaços públicos e afirmando que o privado também era
importante, pois esse era um grito necessário, acabavam
falando delas para elas mesmas. A construção cultural, a
linguagem, a moralidade, a ética, as institucionalidades
das mais diversas (medicina, justiça, igreja, saber científico
etc.) regentes da sociedade, estão impregnadas por um
discurso do chamado Outro e o dominante social teimava em
vir à tona... Resgatar o ser mulher foi importante para
os diferentes movimentos, mas não significou mudanças
nas relações sociais expressas nas práticas cotidianas,
nas práticas institucionais. Proliferaram estudos sobre a
Mulher, mas o diálogo e o estatuto da cientificidade
continuavam a corroer as tentativas feitas por estudiosas
acadêmicas feministas. Buscava-se agora, então, resgatar
e compreender a dialogicidade da comunicação Eu/Outro,
pois no Eu também
está presente o Outro,
haja visto os exemplos colocados neste texto anteriormente
sobre as definições dos termos Gênero,
Masculino/Feminino, Mulher/Homem. O grande Outro da
cultura, segundo Lacan, teimava em inquietar. Mais do que
espelhar a construção, era o momento de buscar entender
o que particulariza a totalidade e o que a totalidade
particulariza. As multiplicidades que compõem os seres
humanos precisavam ser agenciadas, instituindo novas
compreensões, novos modos de ver o humano. Pois, como diz
Guatarri: “a questão da micropolítica é a de como
reproduzimos (ou não), os modos de subjetivação
dominante... Um grupo de trabalho comunitário pode ter
uma ação emancipadora em nível molar, mas o nível
molecular ter toda uma série de mecanismos de liderança
falocrática, reacionária etc... Isso pode ocorrer com a
Igreja. Ou, o inverso: ela pode mostrar-se reacionária,
conservadora em nível das estruturas visíveis de
representação social, em nível de discurso tal qual se
articula no nível político, religioso etc., ou seja, em
nível molar. E, ao mesmo tempo ao nível molecular, podem
aparecer componentes de expressão de singularidade, que não
conduzem, de maneira alguma, a uma política reacionária
e de conformismo” (Guattari e Rolnik, 1986, p. 133).
Com
estes elementos em mãos tenta-se buscar, nesta etapa do
movimento de mulheres e da Academia, compreender a noção
de Gênero enquanto possibilidade de instaurar a
dialogicidade no seio dos movimentos e da ciência. Será
um novo Gueto?
Gênero:
algumas abordagens teóricas e os Elementos Constitutivos
do Conceito
na
perspectiva de Joan Scott
de
maneira resumida, não tende esse texto esgotar toda a
bibliografia existente hoje sobre o conceito Gênero, por
sinal já bastante vasta. Vamos elencar alguns
pressupostos que norteiam os estudos e compreensão de
diversas(os) estudiosas(os), militantes de movimentos
nesta fase atual de compreensão da relação
Masculino/Feminino.
A
conceituação Gênero, enquanto possibilidade de
“entender processos de construção das práticas das
relações sociais, que homens e mulheres
desenvolvem/vivenciam no social” (Bandeira e Oliveira,
1990, p. 8), tem redundado em algumas questões que
precisam ser melhor clareadas. Em primeiro lugar. O
conceito tem uma história, pois ao longo dos séculos, as
pessoas utilizaram de forma figurada “os termos
gramaticais para evocar os traços de caráter ou os traços
sexuais” (Scott, 1995, p. 72). Assim, já em 1878,
Gladstone, citado por Scott, afirmava que “Atena não
tinha nada do sexo além do gênero, nada da mulher além
da forma” (p. 72).
Recentemente
as feministas americanas começaram a utilizar a palavra Gênero
no sentido literal, como uma forma de entender, visualizar
e referir-se à organização social da relação entre os
sexos. Eram tentativas de resistência ao determinismo
biológico implícito, por parte destas feministas,
presente no uso dos termos como sexo ou diferença sexual.
Na verdade queria-se enfatizar o caráter fundamentalmente
social das distinções baseadas em sexo. Conforme
assinala Scott (1995), citando Davis, “nosso objetivo é
descobrir o leque de papéis e de simbolismos sexuais nas
diferentes sociedades e períodos, é encontrar qual era o
seu sentido e como eles funcionavam para manter a ordem
social ou para mudá-la” (p. 72).
O
Gênero também era visto e proposto por pesquisadores que
afirmavam a importância do conceito para transformar os
paradigmas no interior de cada disciplina, ou conforme
Girdon, Buhle e Dye, citadas por Scott (1995),
“inscrever as mulheres na história implica
necessariamente a redefinição e o alargamento das noções
tradicionais... não é demais dizer que as tentativas
iniciais tenham sido hesitantes, uma tal metodologia
implica não somente uma nova história de mulheres, mas
também uma nova história” (p. 73).
Esta
afirmação pressuporia uma analogia entre Gênero e
Classe e Raça. Para estas pesquisadoras as desigualdades
sociais de poder estão organizadas segundo, no mínimo,
estes três eixos: Gênero/Raça/Classe. O problema é que
esta articulação pressupõe uma paridade que não
existe. Segundo Scott “classe tem seu fundamento na
elaborada teoria de Marx (e seus desenvolvimentos
uteriores) sobre a determinação econômica e mudança
histórica, ‘raça’ e ‘gênero’ não carregam
associações semelhantes” (1995, p. 73). O próprio
conceito de classe não é unanimidade entre as
pesquisadoras(es), pois umas utilizam a referência
Marxista, outras(os), a Weberiana. Não existe nem, nesse
nível, uma clareza a respeito de Raça e Gênero, nem as
desigualdades existentes nas práticas e relações
sociais, em relação à simetria Homem/Mulher e etnia, se
dão no mesmo plano de análise das determinações econômicas.
As(os)
historiadoras(es) buscam, então, que o conceito de Gênero
dê conta de três questões:
1.
Explicação das continuidades/descontinuidades e dar
conta das desigualdades presentes, das experiências
sociais radicalmente diferentes.
2.
Constatação da alta qualidade dos trabalhos sobre a história
das mulheres e seu estatuto marginal em relação ao
conjunto da disciplina.
3.
Um desafio teórico, exigindo a análise não só da relação
entre as experiências masculinas e femininas no passado
mas também a ligação entre história do passado e as práticas
históricas atuais.
Mas,
nem só de teoria vive a história e as tentativas de
conceituar o termo Gênero, muitas vezes, tais tentativas
não saíam dos quadros da Academia e apresentavam “tendência
incluir generalizações redutivas ou demasiadamente
simples, que se opõem não apenas a compreensão que a
história como disciplina tem sobre a complexidade do
processo de causação social, mas também aos
compromissos feministas com análises que levam à mudança”
Scott, (1995, p. 74). Mais do que isso, não levavam em
conta o engajamento do movimento feminista, suas lutas e
estudos, nas elaborações das análises.
As
teorias hoje existentes sobre Gênero se colocam dentro de
duas categorias.
Uma
teoria que explica o conceito de forma essencialmente
descritiva, sem interpretar e atribuir causalidade.
Neste
âmbito estão os estudos recentes do uso do Gênero, que
acabaram virando sinônimo de Mulher: onde se lia antes Mulheres,
agora leia-se Gênero. Essa utilização acaba por dar uma
conotação mais objetiva e neutra (não nos esqueçamos
do significado de neutro no dicionário) do que as Mulheres.
A tentativa acaba descartando a participação e experiência
do movimento feminista, dissociando Ciência e Política.
Não implica também uma tomada de posição sobre a
assimetria de poder, nem designa a parte lesada. Inclui as
Mulheres sem as nomear! Lembremo-nos do que colocamos
anteriormente em relação ao que diz Lacan de que a mulher
não existe, estando no campo do inominável, ou seja
fora da linguagem.
Outras
teorias explicam o Gênero para sugerir que as informações
a respeito das mulheres são necessariamente informações
sobre os homens, que um implica o estudo do outro. Esse
uso insiste na idéia de que o mundo de mulheres faz parte
do mundo dos homens, que ele é criado dentro e por esse
mundo. Rejeita-se assim as esferas separadas, as
justificativas biológicas. O Gênero seria uma forma de
indicar construções sociais. Assim, gênero seria, “segundo esta definição,
uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado”
(Gates, citada por Scott, 1995, p. 75).
Usar
Gênero assim pressupõe todo um sistema de relações que
pode incluir o sexo, mas que não é diretamente
determinado pelo sexo nem determina diretamente a
sexualidade. Coloca-se aqui então o desafio de
reconciliar a teoria com a história, que trata das experiências
e estudos específicos. Como articular teoria, concebida
em termos gerais e universais, com especificidade de condição
feminina?
As(os)
historiadoras(es) feministas realizam abordagens sobre o Gênero
que podem ser resumidas em três posições teóricas:
1.
Esforço inteiramente feminista que tenta explicar as
origens do Patriarcado.
2.
Discussões dentro da tradição marxista.
3.
Inspira-se nas várias escolas de Psicanálise para
explicar a produção da Identidade de Gênero do sujeito,
dividida entre o Pós-estruturalismo francês e as teorias
anglo-americanas das relações de objeto.
Diante
do exposto, chegamos à necessidade – e indo pelo
conceito expresso por Scott – de entender que o termo
“gênero é um elemento constitutivo das relações
sociais baseado nas diferenças percebidas entre os
sexos... o gênero é uma forma primária de dar
significado às relações de poder” (1995, p. 86).
Poderíamos
enfrentar a explicação do conceito Gênero das mais
variadas formas e sob os mais variados prismas teóricos.
Preferimos, nossa primeira aproximação da temática,
expor as questões que envolvem a sua conceituação e sua
aplicação aos movimentos e à Academia, bem como as
teorias que embasam cada uma das utilizações. No
entanto, achamos que a conceituação de Scott sobre Gênero
é a que pode ser mais utilizada neste momento, por
englobar vários componentes, que açambarcariam melhor o
termo. Embora também seja uma das explicações e o saber
tem que existir para ser transformado/construído/reconstruído
incessantemente, num movimento de busca das singularidades
sociais e pessoais dentro da subjetividade capitalista
como Guattari mostra (Guattari e Rolnik, 1986).
Esmiuçando
a conceituação de Gênero de Scott, vemos que esta
definição constitui-se de duas partes e várias
subpartes. Assim, os elementos constitutivos em relação
à primeira parte da definição de que o “gênero é um
elemento constitutivo das relações sociais baseado nas
diferenças percebidas entre os sexos” (1995, p. 86),
implica quatro elementos relacionados entre si:
1.
“Símbolos culturalmente disponíveis que evocam
representações simbólicas (e com freqüência contraditórias)”
(Scott, 1995, p. 86) como, por exemplo, Maria e Eva – a
pureza e a sujeira... As apresentações desses símbolos
podem propiciar múltiplas interpretações, mas são
contidas em interpretações binárias, a partir de
explicações culturais.
2.
“Conceitos normativos que expressam interpretações dos
significados dos símbolos, que tentam limitar e conter as
suas possibilidades metafóricas. Esses conceitos estão
expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas,
políticas ou jurídicas e tomam a forma típica de uma
oposição binária fixa que afirma de maneira categórica
e inequívoca o significado do homem e da mulher, do
masculino e do feminino” (Scott, 1995, p.86), via rejeição
ou repressão de outras formas. Assim, por exemplo, a
virilidade é associada ao Masculino
e a feminilidade ao Feminino.
Um homem não pode ter um comportamento mais dócil
emotivo, que automaticamente será rotulado
de efeminado. Outro exemplo é o da pessoa que não se situa nem como
masculino nem como feminino, em termos de opções
sexuais.
3.
A noção de fixidez... que leva a aparência de uma
permanência intemporal na representação binária dos gêneros”
(Scott, 1995, p. 87). A maioria dos estudos, além de
apresentar a dialética da história e das práticas
sociais nas suas análises, não incluem a noção de político,
compreendendo esse político como a resistência ou coerção
a que foram sujeitas as mulheres, principalmente para
ficarem fora da história. Um exemplo disso é a volta do
uso do véu preto, cobrindo o rosto das mulheres
iranianas, após a tomada do poder pelo Aiatolá Khomeini.
Seria necessário incluir, na noção de Gênero, a noção
de político, tanto em relação às Instituições, como
em relação às organizações sociais, ou seja, a atuação
no Macrossocial também é importante.
4.
A noção de Identidade Subjetiva. Como a Identidade de Gênero
são construídas, a partir de formação de
conceitos/preconceitos imaginária e simbolicamente. A
partir da compreensão da Linguagem enquanto elemento
formador e constitutivo do Psiquismo, bem como os símbolos,
que prendem os sujeitos a formas normativas de exercer a
sua subjetividade. Como trabalha, por exemplo, a Educação
diferenciada, existente no seio de nossa sociedade hoje,
constituindo formas específicas de internalização de
valores grupais e sociais. Como viver o exercício da
sexualidade amarrado aos conceitos de papéis sexuais, de
masculino/feminino, de normalidade e anormalidade, de
pureza e sujeira. Basta nos recordarmos dos
significados/tipos de mulher, que o dicionário nos
presenteou, colocado por nós neste texto. Se a concepção
da mulher é de ser ou santa
ou puta,
onde fica o livre exercício de cidadania e o exercício
dos desejos? Assim também, se é verdade o que Lacan
coloca de que o “Inconsciente tem uma sintaxe particular
sendo estruturado como uma linguagem” (Cesarotto e
Leite, 1992, p. 55), coloca a mulher fora do nominável, já
que a Língua é construída no masculino. Pensar e
repensar estas questões são fundamentais em relação a
todas as culturas, dentro de uma análise que permita
entender a construção dessas representações
historicamente situadas.
A
Segunda parte da definição de Scott, de que “o Gênero
é uma forma primária de significar as relações de
poder” (1995, p. 88), a leva a citar Godelier que
aponta: “... não é a sexualidade que assombra a
sociedade, mas antes a sociedade assombra a sexualidade do
corpo. As diferenças entre os corpos, relacionadas ao
sexo, são constantemente solicitadas a testemunhar as
relações sociais e as realidades que não têm nada a
ver com a sexualidade. Não somente testemunhar, mas
testemunhar para, ou seja, legitimar” (p. 89).
Assim,
em lugar de nos perguntarmos sobre o que é o Gênero
ou Gênero, o que é isso?, será que não deveríamos buscar a
compreensão de como esta denominação está se Construindo/Desconstruindo?
Desse
pequeno apanhado surgem, como certas, mais do que
certezas, inúmeras incertezas e possíveis pistas necessárias
para a construção de uma sociedade mais
justa e igualitária nas suas diferenças, semelhanças e
multiplicidades. Enfrentarmos a reflexão aqui
colocada, é um desafio para todas(os) nós. Essa discussão/compreensão
acompanha todos os níveis da sociedade e nos envolve a
todos. No campo da Academia está o desafio de resgatarmos
o conhecimento de uma forma a inserir essa reflexão no
seio de todas as disciplinas. Assim a Gramática, a
Medicina, o Direito, a Biologia etc. surgem como saberes a
serem problematizados. No seio dos movimentos está a
necessidade de refletir sobre nossa história, que faz
parte da História, de aprender/compreender a importância
destas colocações aqui sumariamente ainda esboçadas.
Esse é o nosso desafio!
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA,
Maria Emília Souza. Pelo avesso da cultura: o feminismo.
In: Insight
Psicoterapia.
1992, 17, p. 12 – 15.
BANDEIRA,
Lourdes Maria & OLIVEIRA, Eleonora M. de. Trajetória de Produção Acadêmica
sobre as Relações de Gênero nas Ciências Sociais.
In: GT 11 – A Transversalidade do Gênero nas Ciências
Sociais. XIX Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu, outubro de
1990.
CASAROTTO,
Oscar & Leite, Márcio Peter de Souza. O
que é Psicanálise, Segunda visão. 5ª Ed. são
Paulo, Brasiliense, 1992.
FERREIRA,
Aurélio Buarque de Hollanda. Novo
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2ª
Ed. 18. Impressão. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1986.
GUATTARI,
Félix & ROLNIK, Suely. Micropolítica
– Cartografia do Desejo. Petrópolis. Vozes,
1986.
KEHL,
Maria Rita. A psicanálise e
o domínio das paixões. In: Os Sentidos da Paixão. São Paulo. Funarte, Companhia das
letras, 1990, p. 469-496.
LANE,
Silvia T M. Linguagem, pensamento e representações
sociais. In: LANE, Silvia T. M. e CODO, Wanderley (orgs). Psicologia
Social: o Homem em movimento. São Paulo.
Brasiliense, 1984, 32-39.
SCOTT,
Joan. Gênero: uma categoria Útil de Análise Histórica. Educação e
Realidade. 20 (2), p. 71-99. 1995.
|