|
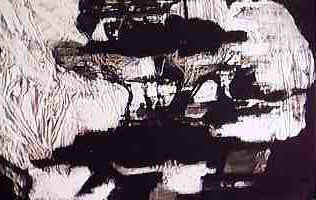
Ruth
Cardoso
Professora
universitária e antropóloga
Antes
de iniciar minha participação neste simpósio,
gostaria de agradecer a todos pela recepção calorosa
que estou tendo. Quero também dizer que considero
extremamente importante discutir esse tema, a Cidadania
e a Multiculturalidade nas Sociedades. É realmente
oportuno retomarmos o problema do preconceito, das
discriminações, entendê-lo melhor para lutar mais
eficientemente contra toda e qualquer forma de
discriminação.
O
título que foi escolhido para essa minha palestra,
“Cidadania em Sociedades Multiculturais”, tenta
reunir dois aspectos, que nem sempre são apresentados
conjuntamente: o da cidadania e o da multiculturalidade,
ou seja, a questão da diversidade das nossas
sociedades, da complexidade cultural nas sociedades atuais. O problema da cidadania já é
reconhecidamente uma das mais importantes questões do
nosso tempo. Ele reaparece com esta força, domina as
preocupações dos grupos envolvidos com o resgate
daqueles que estão excluídos da nossa sociedade e, por
isso, ganha uma importante dimensão política, além de
se configurar também em instrumento intelectual de
bastante força. O conceito de cidadania é hoje aceito
por todos, mas deve se reencontrar com a questão de
direitos e deveres que a sociedade começa a colocar.
Nós
temos definições muito precisas do que seja cidadania.
Mas hoje, como lemos em revistas, jornais e até mesmo
em trabalhos acadêmicos e discursos, o conceito não é
usado de maneira tradicional, não corresponde mais à
formulação do fim do século XVIII e do século XIX.
Ele tem outro significado. Hoje, claramente, cidadania
quer dizer inclusão de populações excluídas, ou
seja, todos numa sociedade devem tornar-se cidadãos. O
conceito de cidadania ortodoxo implicava em que sempre
há pessoas fora do mundo da cidadania. Atualmente, esse
conceito não é mais definido por seus limites. Ao
contrário, ele não deve ter limites. Deve ser um
instrumento de inclusão de todos os segmentos da
população que estão excluídos. Essa discussão
aflora exatamente como o aflorar de problemática que a
sociedade nova está trazendo. Os instrumentos ficam
antigos para a realidade nova e a realidade força uma
redefinição. Isso é um desafio, um desafio sobre qual
nós temos que pensar.
É
importante ressaltar que isso não é uma problemática
brasileira. Freqüentemente no Brasil
considera-se que tudo o que está acontecendo,
está acontecendo exclusivamente aqui. Este é um
defeito do nosso pensamento. Aprenderemos mais se
pensarmos sobre problemas semelhantes no resto do mundo.
Como a redefinição da idéia de cidadania é hoje
universal, nós temos aliados no mundo todo. Certamente
os problemas não são os mesmos, mas têm aspectos
muito semelhantes e as formas de lutar contra eles
talvez sejam também semelhantes.
A
questão da cidadania começa a se modificar, nos anos
60, quando a sociedade passa a ter outros registros e
outras maneiras de manifestar a sua vontade. Nós todos
identificamos os anos 60 como sendo os anos das
explosões e das manifestações dos segmentos que não
faziam parte da política,
não tinham instrumentos para se manifestar, mas passam
a aparecer no cenário para representar a sua vontade e
reverter sua situação. Estes segmentos estavam então,
em graus
diferentes,
excluídos da cidadania, conceito agora usado em seu
sentido moderno. Quando eles começam a ter voz, a arena
das discussões muda e passa a incorporar novos atores
que com esta face, com essas reivindicações, só
aparecem a partir dos anos 60. Esses segmentos, as
mulheres, os negros, os jovens, reivindicavam autonomia
e poder de decisão. Se nós lembrarmos um pouco o que
foi 1968 e de todas as outras manifestações da
juventude durante os anos 70 veremos a busca pelo poder
de influência. Não pelo poder em seu sentido vago, mas
pela presença, pelo poder numa nova arena na qual os
problemas se discutem de modo diferente. E é esse o
momento do mundo contemporâneo em que se recoloca a
questão da cidadania.
Para
entendermos o que aconteceu nessa recolocação dos
limites da cidadania, é importante pensarmos um pouco
sobre a contribuição que o movimento da mulheres deu
neste campo. Entre todos os movimentos que surgiram
nessa época, o de mulheres tem um caráter especial.
Segmentado, dividido em vários caminhos, o movimento de
mulheres acaba por traçar caminhos diferentes. Ele se
tornou universal muito rapidamente, teve apoios e
assumiu características próprias nos diferentes
continentes do mundo. Mas encontrou suporte para a
reivindicação de igualdade nestes continentes, ainda
que de maneiras muito diversas. Embora tenha assumido
posturas bastantes radicais em certos momentos, nunca
foi violento. Este é um traço importante quando se
pensa sobre esse modo de aparição pública de novos
segmentos na sociedade contemporânea. Freqüentemente a
luta pelo ingresso na cidadania foi feita usando
instrumentos que podiam levar ao enfrentamento e à
violência.
O
movimento de mulheres é paradigmático neste sentido;
ele pode ter sido radical, mas não violento. Além
disso, por suas próprias características, deu uma
contribuição extremamente importante, teórica e
conceitual, à compreensão dos processos tais como eles
estavam ocorrendo na sociedade. E a reivindicação das
mulheres é aquela que busca a igualdade num mundo que
reúne homens e mulheres. É uma reivindicação de que
este seja um mundo de iguais. Esta reivindicação
incide diretamente sobre o próprio conceito de
cidadania. As mulheres já vinham lutando pela igualdade
perante a lei desde o começo do século. Em alguns
países desenvolvidos, até o direito a votar e ser
votada foi muito tardio, mas foi conquistado. Ou seja, a
noção de igualdade entre homens e mulheres já era
plenamente aceita e aparentemente condizente com o
conceito de igualdade perante a lei,
com a garantia dos direitos individuais a todos.
A
eclosão do movimento feminino mostrou que a igualdade
não se realizava plenamente. A garantia de direitos
iguais era garantia legal, mas não se estendia
imediatamente ao cotidiano e à cultura. A sociedade
alimentava uma diferença que estava subjacente ao
conceito de cidadania. Uma importante autora feminista,
Carol Peterson, num trabalho denominado “O contrato
sexual”, demonstra que o contrato social supõe o
direito individual. A garantia do direito individual
subjacente a este contrato, era um outro, o chamado
contrato patriarcal, no qual a diferença continua a
existir. Esse é o fundamento da luta das mulheres. Elas
foram, junto com o movimento negro e o movimento jovem,
responsáveis por trazer a luz para a questão da vida
privada, mostrando como a vida privada é também um
campo da política. Aí aparecem as discriminações.
Ainda que não estejam inscritas nas leis e nem sejam
coerentes com a situação legal, elas persistem. Não
são leis, são costumes e como tal permanecem
subjacentes a toda noção de igualdade.
O
movimento de mulheres tem este caráter exemplar. Entre
todos os esforços dos movimentos nos anos 60 e 70, foi
o das mulheres que mostrou com maior clareza que os
direitos garantidos a um indivíduo abstrato - o
cidadão -continua a encobrir todas as diferenças. E
essas diferenças não podem ser tomadas como elementos
de discriminação. Por isso o lema das mulheres é
“Diferentes, porém iguais”. Não se trata de
eliminar as diferenças, mas de garantir a
igualdade.
Novamente
as mulheres são exemplo, porque as diferenças
biológicas continuam a existir. As mulheres, mantendo o
seu papel, querem ver reconhecido seu direito à
diferença. Ou seja, as
mulheres
querem exercer plenamente seus direitos; enquanto iguais
e enquanto diferentes. Essa é uma questão que se
coloca para todas as minorias que sofrem
discriminação.
O
grande problema é exatamente reconhecer essas
diferenças ao mesmo tempo em que se garante a
igualdade. A ampliação do alcance das comunicações e
o desenvolvimento tecnológico levaram o mundo,
rapidamente, à globalização e ao aumento das
diferenças culturais dentro de cada sociedade. De modo
que a diversidade aflora com mais intensidade. Até a
primeira metade do século XX, as categorias que
realmente importavam para se entender o mundo eram
categorias gerais, eram categorias de universalização
dentro de uma sociedade. Hoje todas as categorias com as
quais nós lidamos para entender o cotidiano de uma
sociedade são segmentadas, parceladas, são grupos de
novos atores presentes no espaço público, que querem
reconhecimento e legitimidade como grupo.
O
movimento de mulheres foi o primeiro a também construir
o slogan “A política da vida privada”, ou o privado
é político, e esse foi um grande slogan do movimento
feminista. É na vida privada, e não no aparato legal
ou na vida pública, que está a discriminação. E isso
é verdade também para o racismo. Nós conhecemos, no
Brasil, esta situação. Vivemos num país que tem uma
grande capacidade de encobrir o racismo. Ele quase não
aparece à luz do dia, mas existe, é forte e produz a
discriminação.
A
entrada destes elementos da vida privada na vida
política configura um salto fundamental, nesta última
metade do século XX. Temos que incorporá-los
conceitualmente e, a partir daí, saber trabalhar. A
igualdade já garantida entre as raças, entre os sexos,
a igualdade de todos, é um arcabouço absolutamente
fundamental. Sem ele nenhuma luta é possível. Mas
agora trata-se de entender essa igualdade e identificar
quais são as fontes que alimentam a desigualdade.
Insisto no exemplo das mulheres até porque eu o
conheço mais. Eu apresentei esta questão na IV
Conferência das Mulheres, em Pequim.
Na
América Latina toda houve um progresso muito grande no
nível educacional das mulheres. Hoje no Brasil, nos
mesmos segmentos de idade, as mulheres têm maior
escolaridade que os homens. Se avaliarmos esta
situação sob o ângulo das faixas etárias, as
mulheres têm maior número de anos de estudo. Isto
mostra que as nossas sociedades não são excessivamente
preconceituosas com as mulheres. Quando houve a
expansão das oportunidades de escolaridade, as
famílias não impediram as meninas de irem
para a escola. Elas estão incorporadas à escola
e conseguindo um nível de desempenho maior que o dos
meninos. Entretanto, a conclusão da minha
apresentação em Pequim não foi tão favorável. O
salário das mulheres é ainda, em média, a metade do
salário dos homens. Ou seja, é vã a expectativa de
que o aumento da oferta educacional tenha um efeito
imediato sobre a desigualdade. É preciso continuar
também lutando em outras frentes.
Da
questão que envolve as mulheres, devemos tirar uma
lição. Elas têm a garantia de ingresso no sistema
educacional, mas continuam vivendo uma situação de
desigualdade sancionada exclusivamente pela cultura, os
costumes e as tradições.
Isto
é preconceito, é discriminação. E temos que lutar
até mostrar que as diferenças que as mulheres podem
ter são limitações que atingem a toda a sociedade.
Quando uma vai mulher vai ter um filho, e tem quatro
meses de licença, ela está servindo à sociedade.
Este direito tem que ser reconhecido, garantido.
É preciso assegurar a idéia de que igualdade é
igualdade em todos os níveis, inclusive na vida
cotidiana. Os exemplos de discriminação são
inúmeros. Em cada segmento, com uma face política
distinta, existem direitos específicos que têm de ser
reconhecidos. Novos problemas e indicadores de
discriminação estão vindo a público, estão sendo
trazidos à arena
política.
Isto significa que a demanda é o reconhecimento de
direitos específicos de diferentes segmentos. Quanto
aos negros, precisam lutar contra o racismo. Da mesma
maneira que as mulheres,
eles
têm de lutar contra tudo aquilo que está sedimentado e
que, quase inconscientemente, é posto em circulação
na nossa sociedade. Para lutar contra o preconceito é
preciso realizar atos que demonstrem a necessidade de
que os segmentos vítimas de discriminação tenham
reconhecidos os seus direitos específicos.
Para
que se concretizem os direitos específicos é preciso
garantir seu reconhecimento político. É preciso
disseminar a noção dos direitos específicos e a
necessidade prática de seu reconhecimento, para que se
possa lutar. No caso das mulheres, isto significar
reconhecer que trabalho igual deve corresponder a
salário igual; no caso dos negros, trata-se de atuar
contra a discriminação com a idéia das chamadas
políticas de discriminação positiva, que são aquelas
que garantam alguma vantagem específicas a grupos que
foram tradicionalmente discriminados. São vantagens que
buscam neutralizar a discriminação onde ela sempre se
mostrou mais efetiva e digamos, tradicional.
Este
é um ponto chave da extensão da cidadania, porque na
medida em que nós que aceitamos a idéia de direitos
específicos para as minorias discriminadas legitimamos
a luta por esses direitos.
Apesar
de a discriminação atuar no nível da sociedade, o
Estado tem um papel fundamental nessa questão. São
dois planos e duas ações. É tarefa do Estado atuar
para construir uma igualdade inexistente e que é sempre
imperfeita. Por isso o Estado deveria usar mais os
instrumentos de discriminação positiva.
As
cotas, por exemplo, são uma parte da política de
discriminação positiva. Hoje já se tem uma
avaliação mais coerente do seu efeito. Políticas de
cotas são bastante criticadas hoje. Elas não
produziram o que se esperava delas. Nas escolas, por
exemplo, ou no trabalho, elas produziram, às vezes,
efeitos perversos que não eram previstos. Estamos num
momento especialmente rico que a eclosão de questões
na sociedade nos trouxe. Temos arcabouço teórico que,
não sendo suficiente para o debate de todas essas
questões, nos obriga a repensar, a redefinir conceitos.
Um
exemplo claro disto é o que eu estou tentando mostrar
sobre o conceito de cidadania. Estamos hoje frente às
sociedades multiculturais, onde o número de segmentos
que tem presença pública é muito grande. Os velhos
conceitos não são suficientes para a compreensão dos
problemas. Temos portanto que trabalhar com os novos.
Penso que a multiplicidade de grupos nas sociedades
multiculturais ganharam uma importância muito grande,
conferindo força a novos atores. Anteriormente, eles
até existiam como grupos, mas suas reivindicações
tinham menos eficácia e menos pertinência em relação
à vida política. Isto porque o Estado teve que
reconhecer esta arena nova e tem de reconhecer que a
sociedade não é mais feita pelas categorias amplas, e
generalizadas, mas se compõe de novas identidades, que
são o lucro da política das minorias hoje. Os grupos
sociais, como os indivíduos, definem sua identidade a
partir da criação de ligações internas, ao mesmo
tempo em que encontram sua diferenciação com relação
ao outro. Isto cria processos complexos nas sociedade
multiculturais. Precisamos ficar atentos aos processos
de construção social de grupos novos. Se observarmos o
exemplo dos hispânicos nos Estados Unidos veremos que
antes dos anos 70, havia pouco em comum entre os
mexicanos e os porto-riquenhos, que aliás eram
tradicionais inimigos. Hoje o processo político de
criação de identidade e de reconhecimento do outro
criou um grupo, o dos hispânicos, que tem força,
presença, identidade e reivindicações próprias. A
política hoje tem de lidar com estes novos grupos. Um
exemplo brasileiro desta situação é o homem do campo.
O conceito chave para este grupo, nos anos 50, era dado
pela palavra camponês. Essa palavra criava uma
categoria generalizadora, que acomodava todas as
diferentes
situações
vividas na zona rural brasileira pelos homens do campo.
Hoje, a palavra camponês é estranha no nosso
vocabulário político. Falamos atualmente de segmentos,
capazes de se apresentar
com
identidade própria: sem-terras, bóia-frias, e cada
grupo desses tem suas reivindicações específicas. Uns
se distinguem dos outros porque constróem identidades
diferentes e desta maneira são legitimados.
Nesse
processo o Estado tem um papel importantíssimo:
reconhecer categorias novas. À sociedade cabe o papel
de permitir a gestação desse diferentes segmentos, que
se apresentam e mostram suas diferenças. A partir daí
se estabelece uma espécie de luta pelo reconhecimento
de direitos específicos, ao mesmo tempo em que se cria
uma contra-ofensiva. Depois do avanço, há um
retrocesso. É importante que se entenda como isso
aconteceu. Muitas vezes a luta pelos novos direitos
assume um caráter ingênuo e parece que o
não-reconhecimento de direitos é uma maldade ou uma
injustiça a ser corrigida. Certamente é uma injustiça
e é certamente por isso que temos que dar legitimidade
a essa luta. Mas não podemos pensar que as sociedades
se movem pelos mecanismos da justiça. Nós sabemos que
não é assim. Freqüentemente vemos a negação da
competição entre dois grupos. A competição existe e
está posta. Precisamos trazê-la para nossas
considerações. É esta competição, freqüentemente
negada, que reafirma a necessidade de lutarmos contra o
preconceito.
Depois
de Hobbes, é difícil acreditarmos numa sociedade de
direito natural, numa sociedade de justiça. Temos de
reconhecer então que a luta desses novos parceiros para
serem reconhecidos na arena política não exclui um
processo de competição entre eles mesmos. É evidente
que é preciso unir o nível do espaço privado ao
nível em que ele se transforma em espaço público. No
espaço público, é preciso verificar se o preconceito
aparece como falta de informação e se mostra como
instrumento de defesa e de competição dentro de um
mundo cada vez mais segmentado. É curioso que a mesma
sociedade que, como vimos aqui, contribui para a
ampliação do conceito de cidadania e reconhece a
existência de direitos específicos, atua na
multiplicação do preconceito. Ainda hoje temos guerras
étnicas, impensáveis há vinte ou trinta anos atrás.
Considero importante observarmos com atenção estes
dois lados da questão e estou convencida de que a
solidariedade, nesta situação, tem uma importância
muito grande. Mas se não entendermos melhor esta
questão, se não fizermos um esforço para compreender
o que está acontecendo, não teremos armas para lutar
contra o preconceito que se reinstala e se reinventa a
cada dia.
Vou
dar apenas mais um exemplo que serve a esta discussão.
Vários estudos mostram que as metrópoles do mundo
contemporâneo - há estudos sobre a cidade de São
Paulo que mostram isso claramente - estão sofrendo um
processo de urbanização diferente desde os anos 80.
Há uma transformação nas formas de urbanização, nas
formas de apropriação nas cidades. Levamos muito tempo
para perceber isso. Ainda pensamos a cidade de São
Paulo, por exemplo, a partir de um modelo superado, no
qual a periferia abriga a população pobre, deserdada,
e o centro, em seu sentido amplo, é o centro preservado
e cuidado. Esse modelo não serve mais para explicar a
cidade de São Paulo, como não serve para explicar as
grandes metrópoles do mundo. O avanço tecnológico, a
globalização, as novas formas de exploração
comercial também atuaram nesta transformação. Hoje
temos em toda parte grandes condomínios fechados com
grades, que vendem a idéia de segurança. Os preços
dos terrenos na cidade de São Paulo vêm se equalizando
porque numa ampla área se pode construir esse tipo de
condomínio fechado. Eles se multiplicam e não existem
apenas no Morumbi, mas também na Moóca, em Santana, no
Tatuapé, em São Miguel Paulista porque são ilhas, e
as ilhas podem estar em qualquer lugar. A existência
dessas ilhas produziu, por outro lado, uma
degenerescência de outros espaços na cidade, que
estão, estes sim, sendo ocupados pelos mais pobres.
Como conseqüência há uma diminuição das favelas e
um avanço enorme dos cortiços. Isto é resultado de
algo muito mais amplo.
O medo das pessoas e o preconceito na nossa cidade
crescem muito a cada dia e o medo da violência
justifica, muitas vezes, uma violência prévia.
As
pessoas se isolam porque descobrem que estão do lado
daqueles que constituíam a classe perigosa, e que, do
seu ponto de vista, estavam longe. Estando próximos,
forçam uma redefinição da sociabilidade para permitir
a convivência com esse novo fenômeno, com esta nova
sociedade. Esta redefinição pode se dar a partir da
idéia da solidariedade, que é a idéia de que a
igualdade é um bem que deve ser garantido a todos para
que a sociedade possa efetivamente se organizar. O
conceito de cidadania se ampliou já na prática e isso
ocorreu porque nós temos uma sociedade que coloca
politicamente esta questão na arena da realidade,
incorporando novos conceitos à vida política.
O
medo do bandido, que se confunde freqüentemente com o
medo dos pobres, é uma questão que tem de ser
enfrentada imediatamente. Os pobres estão mais
próximos, estão dentro da mesma área. Se nós não
combatermos esse preconceito, teremos um esgarçamento
muito maior das relações sociais. É preciso entender
também que muitas vezes os pobres, obrigados a se
distinguir dos bandidos, manifestam opiniões que
parecem assustadoras para nós, que somos liberais,
condescendentes e solidários. Se por exemplo se realiza
uma pesquisa de opinião pública, e uma grande maioria
se manifesta favoravelmente à pena de morte para os
bandidos, devemos procurar explicações para isso.
Certamente as pessoas têm que se distinguir dos
bandidos, têm de se mostrar como diferentes, afirmando
algo como “tudo bem que venha pena de morte, porque
ela não virá para nós, homens de bem, que somos
pobres, mas somos homens de bem”. Diante dessa
dinâmica da própria cultura e da sociedade que nós
vamos ter de encontrar os lugares onde está alojado o
movimento de solidariedade, e onde e porque ainda estão
vigentes esses preconceitos que nós temos que desarmar.
Para desarmá-los, nós temos evidentemente que
compreendê-los e acho que vivemos um momento
fundamental. É por isso que eu estou participando desse
simpósio, que certamente trará uma contribuição para
esta questão. Agradeço a atenção de todos.
|