|
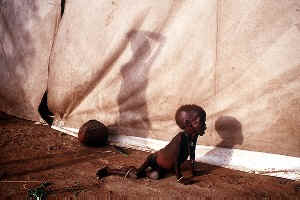
História
e Atualidade dos
Direitos Humanos
Giuseppe
Tosi
1.
UM BREVE ESBOÇO DA HISTÓRIA
CONCEITUAL DOS DIREITOS DO HOMEM.
O
nosso estudo tem como marco temporal a modernidade, isto é, o período
que inicia com as grandes descobertas geográficas dos séculos XV/XVI
até a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Neste
período, ocorreu um gigantesco fenômeno histórico: a expansão da
civilização européia (e, de maneira mais geral, da civilização
ocidental) sobre o resto do mundo, fazendo com que, pela primeira vez, a
história de uma civilização particular se identificasse
progressivamente com a história do mundo.
Este
é o âmbito macro-histórico que devemos sempre ter presente e que
condiciona a nossa analise das teorias e das práticas que contribuíram
para a formação do corpus filosófico e jurídico dos direitos
do homem. Estes, nascidos no contexto da civilização européia, como
momento da sua história, foram, desde o começo, intimamente
relacionados com todo o processo que fez da história da Europa a história
do Mundo.
Os
povos do Novo Mundo foram parte integrante, desde os primórdios, da
moderna história do Ocidente, mas a sua integração sempre foi, até
os dias de hoje, uma integração subordinada, dependente, ao mesmo
tempo includente e excludente (DUSSEL 1995). O primeiro grande encontro,
ou melhor desencontro, entre a Europa e os povos “descobertos”, deu
origem ao maior genocídio de que se tem memória na história da
humanidade.(McALISTER 1985: 115-118; TODOROV 1999).
A
característica constitutiva desta história é o seu caráter complexo,
ambíguo, dualista, ao mesmo tempo de emancipação e opressão, de
inclusão e de exclusão, eurocêntrico e cosmopolita, universal e
particular. Por isso, não podemos não considerar o lugar social do
qual parte a nossa reconstrução histórica e não podemos não prestar
uma maior atenção aos aspetos contraditórios do fenômeno, criticando
uma visão puramente eurocêntrica da história dos direitos do homem e
procurando identificar o “nosso” lugar, enquanto latinoamericanos,
neste processo de constituição de uma história mundial.
Este
olhar “de baixo”, dos excluídos, das vítimas, pode e deve ser a
nossa contribuição para uma reconstrução da história dos direitos
do homem menos unilateral e simplista do que geralmente aparece nos
manuais de divulgação da história dos direitos humanos, os quais
apresentam a seguinte trajetória: iniciam desde a Magna Charta
Libertatum da Inglaterra do século XIII, passando pela Revolução
Gloriosa Inglesa do Século XVII, até a Revolução Americana e
Francesa do Século XVIII para concluir finalmente com a Declaração
Universal das Nações Unidas do Século XX. A Europa e o Ocidente
aparecem, assim, como o espaço onde progressivamente, ainda que com
contradições, se forja a emancipação do homem, que é,
posteriormente, estendida a toda a humanidade como modelo a ser seguido.
O resto do mundo constitui o agente passivo, marginal, é o “outro”
que não é “descoberto”, mas “ocultado”
como afirma Enrique Dussel (DUSSEL 1993; TODOROV 1993) e recebe o verbum
dos Direitos Humanos do Ocidente civilizado.
É
claro que esta história está mal contada. De fato, a modernidade
projeta sobre o mundo uma universalidade que é, ao mesmo tempo,
includente e excludente e não há recurso possível a uma “astúcia
da razão” ou a uma dialética histórica que possa oferecer o momento
da sua superação e reconciliação, pelo menos até o presente
momento.
Feitas
estas observações preliminares, nos podemos dedicar agora a uma
reconstrução, ainda que indicativa e sumária, da história conceitual
dos direitos humanos que procure enfrentar algumas destas questões.
Obviamente a tarefa é muito árdua e difícil e nos estamos aqui
somente começando o nosso caminho e abrindo a discussão.
Na
constituição da doutrina dos direitos do homem, assim como nos a
conhecemos hoje, podemos identificar a confluência de várias correntes
de pensamento e de ação, entre as quais as principais são o liberalismo,
o socialismo e o cristianismo social.
1.1.
- Liberté.
Que
a doutrina dos direitos humanos seja uma aquisição da modernidade e
especificamente do pensamento liberal é uma opinião amplamente difusa
e que faz parte da imagem que o Ocidente tem de si e que projeta sobre o
resto do mundo (BOBBIO 1992:113-130) A doutrina filosófico-jurídica
que funda os direitos humanos é o jusnaturalismo
moderno, isto é, a teoria dos direitos naturais, que rompe com a
tradição do direito natural antigo e medieval, sobretudo a partir do
filósofo inglês Thomas Hobbes, no Século XVII. As características
principais do que Norberto Bobbio define como “modelo jusnaturalista
ou Hobbesiano” (BOBBIO/BOVERO 1986) são as seguintes:
a)
Individualismo. Existem
(ora como dado histórico, ora como hipótese de razão) indivíduos que
vivem num estado de natureza anterior à criação do Estado e que gozam
de direitos naturais intrínsecos, tais como o direito à vida, à
propriedade, à liberdade, à segurança e à igualdade frente à
necessidade e à morte.
b)
O Estado de natureza. É
um pressuposto comum a todos os pensadores deste período, ainda que
eles o caracterizem de modo divergente: ora como um estado de guerra
(HOBBES 1983), ora como um estado de paz instável (LOCKE 1983) ora como
primitivo estado de liberdade plena (ROUSSEAU 1983).
c)
O Contrato Social. Este
é entendido como um pacto artificial (não importa se histórico ou
ideal) entre indivíduos livres para a formação da sociedade civil
que, desta maneira, supera o estado de natureza; pacto através do qual
todos os indivíduos se tornam súditos, renunciando à própria
liberdade in parte ou in
toto para consigná-la nas mãos
do príncipe absolutista de Hobbes (modelo absolutista) ou do monarca
parlamentarista de Locke (modelo liberal) ou da Assembléia Geral de
Rousseau que representa diretamente a vontade geral (modelo
republicano-democrático). Apesar das diferenças, o que há em comum
entre os autores é o caráter voluntário e artificial do pacto ou do
contrato, cuja função é garantir os direitos fundamentais do homem
que, no estado de natureza, eram continuamente ameaçados pela falta de
uma lei e de um Estado que tivesse a força de faze-los respeitar.
d)
O Estado.
Este nasce da
associação dos indivíduos livres (concepção atomista da sociedade)
para proteger e garantir a efetiva realização dos direitos naturais
inerentes aos indivíduos, que não são criados pelo Estado mas que
existiam antes da criação do Estado e que cabe ao Estado
proteger. Para Hobbes trata-se sobretudo do direito à vida, para
Locke do direito à propriedade, para Kant do único e verdadeiro
direito natural que inclui todos os outros que é a liberdade.
Tais
doutrinas surgiram nos séculos XVII e XVIII, no período de ascensão
da burguesia que estava reivindicando uma maior liberdade de ação e de
representação política frente à nobreza e ao clero. Elas forneciam
uma justificativa ideológica consistente aos movimentos revolucionários
que levariam progressivamente à dissolução do mundo feudal e à
constituição do mundo moderno. O jusnaturalismo
moderno, sobretudo através dos iluministas, teve uma importante
influência sobre as grande revoluções liberais do séculos XVII e
XVIII:
-
A
Declaração de Direitos (Bill
of Rights) de 1668 da assim chamada Revolução
Gloriosa que concluiu o período da “revolução inglesa”,
iniciado em 1640, levando à formação de uma monarquia
parlamentar;
-
A
Declaração dos direitos (Bill
of Rights) do Estado da Virgínia de 1777, que foi a base da
declaração da Independência dos Estados Unidos da América (em
particular os primeiros 10 emendamentos de 1791);
-
A
Declaração dos direitos do
homem e do cidadão da Revolução Francesa de 1789 que foi o
“atestado de óbito” do Ancien
Régime e abriu caminho para a proclamação da República.(TRINDADE
J. D. 1998: 23-163; COMPARATO 1999).
Os
direitos da tradição liberal têm o seu núcleo central nos assim
chamados “direitos de liberdade”, que são fundamentalmente os
direitos do indivíduo (burguês) à liberdade, à propriedade, à
segurança. O Estado limita-se a garantia dos direitos individuais através
da lei sem intervir ativamente na sua promoção. Por isto, estes
direitos são chamados de direitos de liberdade
negativa, porque tem como
objetivo a não intervenção
do Estado na esfera dos direitos individuais.
Apesar
da afirmação de que “os homens nascem e são livres e iguais”, uma
grande parte da humanidade permanecia excluída dos direitos. As várias
declarações de direitos das
colônias norte-americanas não consideravam os escravos como
titulares de direitos tanto quanto os homens livres. A Declaração
dos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa não
considerava as mulheres como sujeitas de direitos iguais aos dos
homens. Em geral, em todas estas sociedades, o voto era censitário e só
podiam votar os homens adultos e ricos; as mulheres, os pobres e os
analfabetos não podiam participar da vida política. Devemos também
lembrar que estes direitos não valiam nas relações internacionais.
Com efeito, neste período na Europa, ao mesmo tempo em que
proclamavam-se os direitos universais do homem, tomava um novo impulso o
grande movimento de colonização e de exploração dos
povos extra-europeus; assim, a grande parte da humanidade ficava excluída
do gozo dos direitos.
É
oportuno relembrar também que a criação de um mercado mundial foi
possível graças à pilhagem e a drenagem de enormes recursos dos povos
colonizados e a reintrodução, em ampla escala, da escravidão, que
havia sido abolida desde os tempos da queda do Império Romano. Fenômenos
que contribuíram para o processo histórico da acumulação primitiva
do capital, que deu o grande impulso à criação e expansão do sistema
capitalista mundial.
A
escravidão foi implantada na época Moderna pela “potências cristãs”,
tendo Portugal o monopólio do tráfico, numa forma tanto mais brutal e
injustificável enquanto abertamente em contraste com a doutrina da
liberdade e igualdade natural de todos os homens da tradição cristã
secularizada pela modernidade. E, se os antigos discriminavam os “bárbaros”,
foram os modernos que inventaram o racismo na sua forma específica como
um produto “novo” do etnocentrismo e do cientificismo europeu que a
Antigüidade não conheceu.
1.2
- Egalité.
A
tradição liberal dos direitos do homem - que domina o período que vai
do Século XVII até a metade do Século XIX, quando termina a era das
revoluções burguesas - mostrava-se insuficiente para resolver os novos
problemas criados pelo capitalismo.(HOBSBAWM 1982). É nessa época que
entra na cena política o socialismo, que encontra suas raízes naqueles
movimentos mais radicais da Revolução Francesa que queriam não
somente a realização da liberdade, mas também da igualdade.
O
socialismo, sobretudo a partir dos movimentos revolucionários de 1848
(ano em que foi publicado o Manifesto da Partido Comunista de Marx e
Engels), reivindica uma série de direitos novos e diversos daqueles da
tradição liberal. A egalité da
Revolução Francesa era somente (e parcialmente) a igualdade dos cidadãos
frente à lei, mas o capitalismo estava criando novas grandes
desigualdades econômicas e sociais e o Estado não intervinha para pôr
remédio a esta situação.
Os
movimentos revolucionários de 1848 constituem um acontecimento chave na
história dos direitos humanos, porque conseguem que, pela primeira vez,
o conceito de “direitos sociais” seja acolhido na Constituição
Francesa, ainda que de forma incipiente e ambígua. Já nas “Declarações”
sucessivas à de 1789, e que constituem o preâmbulo às duas
Constituições elaboradas durante o período revolucionário, aparecem
os primeiros “direitos sociais”: à assistência pública aos pobres
e necessitados (considerada “um direito sagrado”), ao trabalho, à
instrução primária universal e gratuita; direitos que não tiveram
maiores conseqüências na época, mas que reaparecerão com mais
efetividade na constituição Francesa de 1848 (COMPARATO 1999: cap. 5°,
6°). Estava, assim, aberto
o longo e tortuoso caminho que levaria progressivamente à inclusão de
uma serie de direitos novos e estranhos à tradição liberal: direito
à educação, ao trabalho, à segurança social, à saúde, que
modificam a relação do indivíduo com o Estado.
Na
sua luta contra o absolutismo, o liberalismo considerava o Estado como
um mal necessário e mantinha uma relação de intrínseca desconfiança:
a questão central era a garantia das liberdades individuais contra
a intervenção do Estado nos assuntos particulares. Agora, ao contrário,
tratava-se de obrigar o Estado a fornecer um certo número de serviços
para diminuir as desigualdades econômicas e sociais e permitir a
efetiva participação de todos os cidadãos à vida e ao
“bem-estar” social.
Este
movimento, que marca as lutas operárias e populares do século XIX e
XX, tomará um grande impulso com as revoluções socialistas do Sec. XX
(antes da Revolução Soviética, a Revolução Mexicana de 1915/17
havia colocado claramente em primeiro plano a necessidade de garantir os
direitos econômicos e sociais; ver COMPARATO 1999: 160-178), e com as
experiências socialdemocráticas e laboristas européias. De fato,
através das lutas do movimento operário e popular, os direitos
sociais, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, começam a ser
colocados nas Cartas Constitucionais e postos em prática, criando assim
o chamado “Estado do Bem-estar Social” (Welfare
State) nos países
capitalistas (sobretudo europeus) e garantindo uma série de conquistas
econômicas e sociais nos países socialistas.
É
oportuno assinalar que o processo não foi tão linear e simples como
parece nesta sumária exposição. Na verdade, nunca foi fácil colocar
em prática, ao mesmo tempo, os direitos de liberdade e os direitos de
igualdade. Nos países de regime socialista, a garantia dos direitos
econômico-sociais foi acompanhada por uma brutal restrição, ou até
eliminação, dos direitos civis e políticos individuais. É oportuno
também lembrar que deste avanço dos direitos sociais continuaram excluídos
os países submetidos à dominação colonial ou neocolonial que
representavam a grande parte da humanidade.
1.3
-Fraternité.
A
mensagem bíblica contém um forte chamamento à fraternidade universal:
o homem foi criado por Deus a sua imagem e semelhança e todos os homens
são irmãos porque tem Deus como Pai; o homem tem um lugar especial no
Universo e possui uma sua intrínseca dignidade. A doutrina dos direitos
naturais que os pensadores cristãos elaboraram a partir de uma síntese
entre a filosofia grega e a mensagem bíblica valoriza a dignidade do
homem e considera como naturais alguns direitos e deveres fundamentais
que Deus imprimiu “no coração” de todos os homens.(MARITAIN 1999;
LIMA 1999).
Deste
ponto de vista, segundo uma certa linha de interpretação, a doutrina
moderna dos direitos humanos pode ser considerada como uma “secularização”,
isto é, uma tradução em termos não religiosos, leigos e
racionalistas, dos princípios fundamentais da antropologia teológica
cristã que conferia a homem uma sua intrínseca dignidade enquanto
criado e imagem e semelhança de Deus.
Porém,
o envolvimento e a identificação da Igreja com as estruturas de poder
da sociedade antiga e medieval fez com que os ideais da natural
igualdade e fraternidade humana que ela proclamava não fossem, de fato,
respeitados e colocados em prática. Com o advento dos tempos modernos a
Igreja Católica, fortemente atingida, de um lado, pelas grandes
reformas religiosas, sociais e políticas das revoluções burguesas, e
do outro pelo avanço do movimento socialista e comunista,
foi perdendo progressivamente o poder temporal e uma grande parte
do poder econômico que se fundava na propriedade da terra. Este foi um
dos motivos principais da hostilidade da Igreja contra as doutrinas e as
praticas dos direitos humanos da modernidade: a Igreja permaneceu
defendendo o Antigo Regime, do qual era parte fundamental, com todos os
seus privilégios e reagiu contra as “novidades” da modernidade.
Ainda
no Século XIX, no fim da Idade Moderna, o Papa Pio VI, em um dos
numerosos documentos contra-revolucionários, afirmava que o direito de
liberdade de imprensa e de pensamento é um “direito monstruoso”
deduzido da idéia de “igualdade e liberdade humana” e comentava:
“Não se pode imaginar nada de mais insensato que estabelecer uma tal
igualdade e uma tal liberdade entre nós.” (apud BOBBIO 1992:
130). Em 1832, o Papa Gregório
XVI afirmava que: “é um princípio errado e absurdo, ou melhor uma
loucura (deliramentum), que
se deva assegurar e garantir a cada um a liberdade de consciência. Este
é um dos erros mais contagiosos.” (apud SWIDLER 1990: 40).
A
hostilidade da Igreja Católica aos direitos humanos modernos começa a
mudar somente com o Papa Leão XIII que, com a sua Encíclica Rerum
Novarum de 1894, dará início a chamada “doutrina social da
Igreja”. Com ela, a Igreja Católica procura inserir-se de maneira autônoma
entre o liberalismo e o socialismo propondo uma via própria inspirada
nos princípios cristãos. Este movimento continuará durante todo o século
XX e levará a Igreja Católica, especialmente após o Concilio Vaticano
II (1961-66), a modificar sua posição de condenação dos direitos
humanos (VATICANO II 1966: § 1045/1046).
Mais recentemente o papa João Paulo II, na sua Encíclica Redemptor
Hominis, reconheceu o papel das Nações Unidas na defesa dos
“objetivos e invioláveis direitos do homem.”(apud SWIDLER 1990: 43).
A
Igreja Católica se inseriu assim, ainda que tardiamente, no movimento
mundial pela promoção e tutela dos direitos humanos em conjunto com
outras igrejas cristãs que estão engajadas nesta luta, num diálogo
ecumênico aberto às outras grandes religiões mundiais. Cabe aqui
citar, só a titulo de exemplo, a Declaração
para uma Ética Mundial, promovida pelo Parlamento das Religiões
Mundiais em Chicago em 1993
(KÜNG e KUSCHEL 1995),
que inspira-se no trabalho de alguns teólogos ecumênicos, como Hans Küng,
os quais proclamam a centralidade dos direitos humanos individuais e
sociais. (KÜNG 1992 e 1999).
2.
A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA ONU DE 1948
Quando,
após a experiência terrível das duas guerras mundiais, os líderes
políticos das grandes potências vencedoras criaram, em 26 de junho de
1945, em São Francisco, a ONU (Organização das Nações Unidas) e
confiaram-lhe a tarefa de evitar uma terceira
guerra mundial e de promover a paz entre as nações,
consideraram que a promoção dos “direitos naturais” do homem fosse
a conditio sine qua non para
uma paz duradoura. Por isto, um dos primeiros atos da Assembléia Geral
das Nações Unidas foi a proclamação, em 10 de dezembro de 1948, de
uma Declaração
Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro artigo reza da
seguinte forma:
“Todas
as pessoas nascem livres e iguais
em dignidade e em direitos. São dotadas de razão e de consciência e
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.
Os
redatores tiveram a clara intenção de reunir, numa única formulação,
as três palavras de ordem da Revolução Francesa de 1789: liberdade,
igualdade e fraternidade. Desta
maneira, a Declaração Universal
reafirma o conjunto de direitos das revoluções burguesas (direitos de
liberdade, ou direitos civis e
políticos) e os estende a uma série de sujeitos que anteriormente
estavam deles excluídos (proíbe a escravidão, proclama os direitos
das mulheres, defende os direitos dos estrangeiros, etc.); afirma também
os direitos da tradição socialista (direitos de igualdade, ou direitos
econômicos e sociais) e do cristianismo social (direitos
de solidariedade) e os estende aos direitos culturais.
(Para uma reconstrução do
debate que foi travado entre as várias correntes ideológicas durante a
redação da declaração, ver CASSESE 1994: 21-49)
É
oportuno lembrar que a Declaração Universal foi proclamada na plena
vigência dos regimes coloniais e que, “mesmo após subscreverem a
Carta de São Francisco e a “declaração de 48”, as velhas metrópoles
colonialistas continuaram remetendo tropas e armas para tentar esmagar
as lutas de libertação e, em praticamente todos os casos, só se
retiraram após derrotados por esses povos”. (TRINDADE J. D. 1998:
160).
A
partir da declaração, através de várias conferências, pactos,
protocolos internacionais
a quantidade de direitos de desenvolveu a partir de três tendências:
-
universalização:
em 1948, os Estados que
aderiram à Declaração Universal da ONU eram somente 48, hoje
atingem quase a totalidade das nações do mundo, isto é 184 países
sobre os 191 países membros da comunidade internacional
(CASSESE 1994: 52). Iniciou assim um processo pelo qual os
indivíduos estão se transformando de cidadãos de um Estado em
cidadãos do mundo;
-
multiplicação:
nos últimos cinqüenta anos,
a ONU promoveu uma série de conferencias específicas que
aumentaram a quantidade de bens que precisavam ser defendidos: a
natureza e o meio ambiente, a identidade cultural dos povos e das
minorias, o direito à comunicação e a imagem;
-
diversificação:
as Nações Unidas também definiram melhor quais eram os sujeitos
titulares dos direitos. A pessoa humana não foi mais considerada de
maneira abstrata e genérica, mas na sua especificidade e nas suas
diferentes maneiras de ser: como mulher, criança, idoso, doente,
homossexual, etc...
Este
processo deu origem a “novas gerações” de direitos:
-
A
primeira geração inclui os direitos civis e políticos: os
direitos à vida, a liberdade, à propriedade, à segurança pública,
a proibição da escravidão, a proibição da tortura, a igualdade
perante a lei, a proibição da prisão arbitrária, o direito a um
julgamento justo, o direito de habeas corpus, o direito à
privacidade do lar e ao respeito de própria imagem pública, a
garantia de direitos iguais entre homens e mulheres no casamento, o
direito de religião e de livre expressão do pensamento, a
liberdade de ir e vir dentro do país e entre os países, o direito
de asilo político e de ter uma nacionalidade, a liberdade de
imprensa e de informação, a liberdade de associação,a liberdade
de participação política direta ou indireta, o princípio da
soberania popular e regras básicas da democracia (liberdade de
formar partidos, de votar e ser votado, etc...);
-
A
segunda geração inclui os direitos econômicos, sociais e
culturais: o direito à
seguridade social, o direito ao trabalho e a segurança no trabalho,
ao seguro contra o desemprego, o direito a um salário justo e
satisfatório, a proibição da discriminação salarial, o direito
a formar sindicatos, o direito ao lazer a ao descanso remunerado,o
direito à proteção do Estado do Bem-Estar-Social, a proteção
especial para a maternidade e a infância, o direito à educação pública,
gratuita e universal,o direito a participar da vida cultural da
comunidade e a se beneficiar do progresso científico e artístico,
a proteção dos direitos autorais e das patentes científicas;
-
A
terceira geração
inclui os direitos a uma nova ordem internacional (FERREIRA
FILHO 1996: 57): o
direito a uma ordem social e internacional em que os direitos
e liberdades estabelecidos na Declaração possam ser plenamente
realizados; o direito à paz,
ao desenvolvimento, ao meio ambiente, etc...
-
A
quarta geração
é uma categoria nova
de direitos ainda em discussão e que se refere aos
direitos das gerações futuras que criariam uma obrigação
para com a nossa geração, isto é, um compromisso de deixar o
mundo em que vivemos, melhor, se for possível, ou “menos pior”,
do que o recebemos, para as gerações futuras. Isto implica uma série
de discussões que envolvem todas as três gerações de direitos, e
a constituição de uma nova ordem econômica, política, jurídica,
e ética internacional.
Esta
listagem é apenas indicativa, já que existe uma controvérsia sobre a
oportunidade de considerar como direitos “efetivos” os de terceira e
quarta geração, porque não existe um poder que os garanta, assim como
há divergência quanto à lista dos direitos a serem incluídos nessas
categorias
3.
A ATUALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS: ALGUMAS QUESTÕES
Esta
leitura, que expusemos de forma sumária, encontra hoje um amplo
consenso e constitui uma koiné
de significados e de conceitos amplamente difundidos e utilizados para a
interpretação dos acontecimentos históricos e contemporâneos do
Ocidente e do mundo. Aparentemente não haveria maiores problemas: ao
redor do núcleo essencial dos direitos liberais se dá uma contínua
agregação de direitos que, sem ferir os princípios inspiradores
originários, vem ampliando o leque dos direitos possíveis acompanhando
o crescimento da “consciência moral” da humanidade.(BOBBIO 1992).
Porém,
as coisas não são tão simples e vozes críticas rompem este aparente consensum
gentium, apontando problemas, aporias, contradições que merecem
ser analisadas. Acreditamos
que, hoje, podemos identificar algumas grandes questões em aberto, a
respeito do nosso tema.
3.1
- Direitos de liberdade e direitos
de igualdade: irreconciliáveis?
Uma
crítica dirigida contra a imagem da evolução linear e progressiva dos
direitos humanos tende a pôr em evidencia o seu caráter conflituoso
pela presença de tradições de pensamento diferentes e contrastantes,
o que coloca o problema de sua compatibilidade.
A polarização entre “direitos de igualdade” e “direitos
de liberdade” continua sendo uma das grandes questões não resolvidas
do debate atual sobre os direitos humanos.
Na
concepção liberal, o Estado nasce da agregação de indivíduos
supostamente auto-suficientes e livres no estado de natureza, com
o objetivo de garantir a liberdade (negativa) de cada um em relação ao
outro. Por isso, a realização histórica dos direitos não é confiada
à intervenção positiva do Estado, mas é deixada ao livre jogo do
mercado, partindo do pressuposto liberal que o pleno desdobramento dos
interesses individuais de cada um -
limitado somente pelo respeito formal dos interesses do outro - possa
transformar-se em benefício público pela mediação da mão invisível
do mercado.
O
próprio contrato social funda-se no pressuposto do natural egoísmo dos
indivíduos que deve ser somente controlado e dirigido para uma
“sadia” competição de mercado. Neste sentido, na concepção
atomista e individualista da sociedade própria do liberalismo e do
neo-liberalismo, o estado de natureza é superado pelo estado civil só
formalmente, mas, de fato, permanece
no próprio âmago da sociedade civil que tende a reproduzir e ampliar
as relações mercantilistas.
Isto
não impede, como afirma H.
C. de Lima Vaz, “o
reaparecimento do estado de
natureza em pleno coração da vida social, com o conflito dos
interesses na sociedade civil precariamente conjurado pelo
convencionalismo jurídico.” (VAZ 1988: 175).
Não
è por acaso que o programa nacional de direitos humanos limitou sua
atuação aos direitos civis e políticos e ainda, nem sequer conseguiu
elaborar as linhas programáticas de uma possível implantação dos
direitos econômicos, sociais e culturais
que, aliás, são continuamente tornados vãos pela política
econômica de cunho neo-liberal implementada pelo governo(PINHEIRO e MESQUITA 1998: 43-53).
3.2
- Universalização dos direitos versus
globalização da economia.
Esta
situação nacional reflete uma situação mundial. Aparece sempre mais
claramente - sobretudo para quem olha o mundo do lugar social dos excluídos
- que o projeto dos direitos humanos como hoje se apresenta, não
somente não é de fato universal, mas tampouco pode ser “universalizável”,
porque precisa reproduzir continuamente a contradição excluídos/incluídos,
emancipação /exploração, dominantes/dominados.
A
atual conjuntura mundial dominada pelo processo de globalização sob a
hegemonia neoliberal não faz que acentuar e exasperar a contradição
entre direitos de liberdade e direitos sociais, democracia política e
social. De fato, a universalização dos direitos humanos não caminha
no mesmo sentido da globalização da economia e das finanças mundiais,
que estão vinculadas à lógica do lucro, da acumulação e da
concentração de riqueza e desvinculadas de qualquer compromisso com a
realização do bem estar social e dos direitos do homem. O processo de
globalização significa um retorno - e um retrocesso - à pura defesa
dos direitos de liberdade, com uma intervenção mínima do Estado.
Nesta perspectiva, não há lugar para os direitos econômico-sociais
e/ou de solidariedade da tradição socialista e do cristianismo social;
por isto, novas e velhas desigualdades sociais e econômicas estão
surgindo no mundo inteiro (BECK 1999
HIRST e THOMPSON 1998; IANNI 1996 e 1997).
3.3.
Direitos Humanos: Universais ou Ocidentais?
O
caráter contraditório da afirmação histórica dos direitos humanos
questiona a pretensão da consciência européia e ocidental de se
considerar como o lugar histórico por excelência da emancipação
universal e mostra o lado exclusivo e violento que sempre esteve
presente durante toda a história moderna até o presente.
Se
o colonialismo, enquanto forma política acabou, a “missão
civilizadora” do Ocidente continua e se expressa justamente nas
doutrinas universais dos direitos humanos. Hoje, qualquer intervenção
política e até militar dos Estados dominantes e das organizações
internacionais (por eles dominados) faz apelo à defesa dos direitos
humanos como sua justificativa ideológica.
A
pretensa universalidade dos direitos do homem esconde o caráter
marcadamente europeu e cristão destes últimos, que não podem,
portanto serem estendidos ao resto do mundo onde permanecem tradições
culturais e religiosas próprias, estranhas quando não contrárias e
incompatíveis com as doutrinas ocidentais, tradições estas que
precisam se respeitadas. Estas críticas se inserem num debate mais
amplo sobre os processos de homogeneização cultural que o Ocidente está
impondo ao mundo inteiro e encontram receptividade entre todos aqueles
que estão preocupados com o respeito das culturas e manifestam uma
franca desconfiança para com qualquer forma de universalismo. Os
direitos humanos arriscam assim de se tornar um “pensamento único”
que justificam uma “pratica única”, politicamente correta,
nivelando as diferenças e as divergências.
A
respeito desta questão assinalamos a existência de duas grandes posições
possíveis. De um lado, uma leitura que contrapõe o eurocentrismo
europeu e ocidental às culturas “outras” que lutam para preservar a
sua alteridade e as suas diferenças, oriundas de uma história e de uma
tradição própria e original que nada tem a ver com a doutrina dos
direitos humanos, ocidental e cristã, imposta de fora com a violência
e com a propaganda pelas potências ocidentais. Exemplos típicos desta
postura podem ser considerados os movimentos islâmicos mais radicais
que reafirmam a própria tradição “contra” o Ocidente.
Do
outro lado, se reconhece que o processo de expansão ocidental sobre o
mundo, durante esses séculos, foi tão radical, profundo e capilar que
não há mais culturas ou civilizações “outras” que possam
permanecer “fora” da sua esfera de influência. A última vez que a
história registrou algo de radicalmente “outro” foi com a
descoberta dos índios por parte dos ibéricos no Século
XIV/XV. Os europeus se defrontaram com algo absolutamente inesperado, inédito
e novo. São inúmeros os testemunhos dos cronistas da época que
registram o espanto, a maravilha e o encanto suscitados pelo Mundus
Novus. Mas em muito pouco tempo esta atitude mudou radicalmente e
estas novas populações foram destruídas, aniquiladas, assimiladas,
“encobertas” e o mesmo aconteceu, guardadas as devidas diferenças,
com todos os povos e civilizações que entraram em contato com o
Ocidente (BRUITS 1995).
Nesta
perspectiva, não somente não ha mais um “outro”, mas as próprias
categorias e os conceitos utilizados pelos povos não ocidentais para se
contrapor ao Ocidente e reivindicar a sua identidade são encontradas e
retiradas do arsenal conceitual do próprio Ocidente. Liberdade,
igualdade, direitos dos indivíduos, tolerância, democracia,
socialismo, revolução, etc. são conceitos estranhos às tradições
culturais desses povos e que só existem na tradição ocidental. Típico
o caso dos movimentos revolucionários dos países colonizados (como a
China e o Vietnã) que enviaram suas elites a estudarem na Europa, onde
aprenderam a utilizar “contra” os colonizadores as teorias
socialistas e revolucionárias elaboradas na metrópole.
A
questão é complexa. Por um lado, apesar de ter surgido no Ocidente, a
doutrina dos direitos humanos está se espalhando a nível planetário.
Isto pode ser medido não somente pela assinatura dos documentos
internacionais por parte de
quase todos os governos do Mundo, mas igualmente pelo surgimento de um
movimento não governamental de promoção dos direitos humanos que
constitui quase como que uma “sociedade civil” organizada em escala
mundial, desde o bairro até as Nações Unidas.
Por
outro lado, o respeito aos direitos humanos está longe de ser algo
universal e aceito em todas as culturas e civilizações e por isso, a
questão da universalidade dos direitos humanos permanece um dos
problemas abertos do ponto de vista teórico e prático.
1.4
– Direitos Humanos
e Geopolítica
Os
acontecimentos de 11 de setembro de 2001 e a guerra desencadeada pelos
Estados Unidos contra o “terrorismo internacional” mostram a
atualidade e a dramaticidade desta questão que, atualmente, se
manifesta mais nos termos de um “crash os civilizations”,
defendido por Hugtington, do que nos termos de um“ fim da história”,
defendida por Fukuyama.
No
plano internacional as relações entre os Estados permanecem no estado
de natureza hobbesiano, da guerra de todos contra todos. As tentativas
realizadas no século passado para criar uma organização como a ONU
que evitasse a guerra entre as nações e promovesse o desenvolvimento e
a paz mundiais não avançaram muito. De fato, em lugar de caminhar em
direção a uma autoridade, ao mesmo tempo inter e supra nacional,
quase como um governo mundial, não prosperaram e o mundo está,
de fato embora não de direito, administrado, como sempre foi, pelas
grandes potências mundiais. Os Estados Unidos lideram este bloco e, após
a queda do comunismo, implementam uma política de tipo imperial
mantendo a hegemonia sobre o resto do mundo e intervendo quando sentem
ameaçados os seus interesses “vitais”. As Nações Unidas, que,
paradoxalmente, foram um “sonho” de Wilson e de Roosvelt, ambos
presidentes norte-americanos, estão hoje relegadas a um papel secundário,
de mero legitimador da política ocidental.
Neste
contexto, a pretensão de criar uma “nova ordem mundial” que permita
aos organismos internacionais e as grandes potências de defender e
promover os direitos humanos no mundo, através de uma política de
centralização e de “intervenção humanitária” que passe por cima
da soberania dos Estados e possa intervir, até de forma armada, quando
necessário não tem credibilidade porque o Ocidente está utilizando a
“retórica” dos direitos humanos para encobrir os seus verdadeiros
interesses e impor ao resto do mundo a sua hegemonia política e econômica
(ZOLO 2000).
4.
CONCLUSÃO
Este,
de maneira sumaria, é o quadro de algumas questões que se apresentam
no debate atual sobre os direitos do homem. A doutrina, ou melhor, as
doutrinas dos direitos humanos, não constituem um campo consensual e
pacífico como pode aparecer a uma análise superficial e os problemas
mais dramáticos e urgentes da humanidade estão em jogo. Apesar da retórica
oficial, a grande parte da humanidade continua, como sempre foi, excluída
dos direitos mínimos fundamentais e a situação tende a se agravar
continuamente.
Poderíamos
concluir que, ao final, tudo isso não passa de uma retórica vazia.
Neste sentido, falar em direitos humanos nada mais seria do que uma
“diversão” ou um “desvio” que escamoteia as questões de fundo
da nossa sociedade injusta e excludente que não mudou substancialmente
nestas últimas décadas, aliás piorou consideravelmente com a implantação
das políticas neoliberais.
Ao
final, o discurso e as metas “oficiais” do governo, e as metas do
“Programa Nacional dos Direitos Humanos” se chocam diretamente com a
política econômica e social que vai numa direção totalmente contrária
e o cenário internacional não caminha em direção a uma nova ordem
mundial econômica, ética e política mais justa mas em direção ao
aumento das desigualdades sociais a nível planetário e a uma crescente
militarização do mundo para defender a injusta ordem atual (citar a
estrategia do império...).
Sei
que esta desconfiança é justificada e faz parte das preocupações
quotidianas dos militantes e educadores dos direitos humanos que se
sentem, muitas vezes, impotentes e frustrados quando fazem o balanço de
suas atividades olhando, não ao número de cursos realizados, palestras
proferidas, oficinas implementadas, cartilhas, artigos
e livros publicados, denúncias feitas a nível nacional e
internacional, ações de fiscalização e de mobilização promovidas,
mas aos efeitos práticos deste enorme trabalho educativo sobre a
realidade do Brasil e do mundo.
È
possível que isto se deva a uma contradição estrutural profunda na
nossa sociedade capitalista tardo-moderna e neoliberal que inviabiliza a
realização dos direitos e que, enquanto perdurar a estrutura social
vigente, não haverá possibilidade de garantir “todos os direitos
para todos”, mas não vejo no horizonte movimentos sociais e políticos
reais capazes de reverter este quadro macro-estrutural, sobretudo após
do fracasso do socialismo real.
Não
tenho uma resposta para essa questão, que foge não somente do nosso
tema mas também do nosso alcance. Acredito, porém, olhando o mundo com
o otimismo da vontade e o pessimismo da razão - como dizia Gramsci -
que os direitos da pessoa humana constituem um terreno não simplesmente
tático mas estratégico para a luta política de transformação da
sociedade.
Existe
um movimento real, concreto, histórico, amplo, quase-universal de luta
pelos direitos humanos, no mundo inteiro. È um movimento pluralista,
polissêmico, vário, polêmico, divergente, mas è um movimento histórico
concreto, aliás o único movimento - que eu conheço - que tenha uma
linguagem, uma abrangência, uma articulação, uma organização que
supere as fronteiras nacionais, tanto horizontalmente, através das
redes, quanto verticalmente: do bairro às Nações Unidas (ALVES 1994).
A
questão dos direitos humanos, hoje, entendida em toda a sua
complexidade aponta para um espaço de u-topia, (ou melhor de eu-topia,
de bom-lugar), funciona como uma idéia reguladora, um horizonte que
nunca poderá ser alcançado porque está sempre mais além, mas sem o
qual não saberíamos nem sequer para onde ir.
ALVES,
Lindgren J. A., Os direitos
humanos como tema global, Perspectiva, São Paulo 1994.
BECK,
Ulrich, O que é a globalização.
Equívocos do globalismo. Respostas à globalização, Paz e Terra,
Rio de Janeiro 1999.
BOBBIO,
Norberto e BOVERO, Michelangelo, Sociedade
e estado na filosofia política moderna, trad. Carlos Nelson
Coutinho, Brasiliense, São
Paulo 1986 (1979).
BRUIT,
Héctor Hernan, Bartolomé de Las Casas e a simulação dos vencidos,
Ed. UNICAMP/ILUMINURAS, Campinas-São Paulo 1995.
CASSESE,
Antonio, I diritti umani nel mondo contemporaneo , Laterza,
Roma-Bari 1994.
COMPARATO,
Fábio Konder, A afirmação histórica
dos direitos humanos, São Paulo, Saraiva 1999.
CONCILIO
VATICANO II, Dichiarazione sulla
libertà religiosa,Edizioni Dehoniane, Bologna 1966, § 1045/1046.
DUSSEL,
Enrique, Filosofia da Libertação. Crítica à ideologia da exclusão,
Paulus, São Paulo 1995: O
Encobrimento do Outro. A origem do mito da modernidade, Vozes, Petrópolis,
RJ 1993.
FERREIRA
FILHO, Manoel Gonçalves,
Direitos Humanos Fundamentais, Saraiva, São Paulo 1996.
HOBBES,
Thomas, Leviatã,
ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil (1651),
trad. de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva, Abril
Cultural, São Paulo 1983 (Os Pensadores).
HOBSBAWN,
Eric, A
era das revoluções (1789-1848), Paz e Terra, Rio de Janeiro 1982.
KÜNG,
Hans, Projeto de ética mundial. Uma moral ecumênica em vista da
sobrevivência humana,
São Paulo, Paulinas 1992; Uma ética
global para a política e a economia mundiais, Vozes, Petrópolis
1999.
KÜNG,
Hans e MOLTMANN, Jürgen (ed.), Etica
delle religioni universali e diritti umani, Concilium,
Queriniana, Brescia 2 (1990).
KÜNG,
Hans e KUSCHEL, Karl Josef
(ed), Per un’etica mondiale. La
dichiarazione
del parlamento delle religioni mondiali,
Rizzoli, Milano 1995.
HIRST,
Paul e THOMPSON, Grahame, Globalização
em questão, Vozes, Petrópolis 1998.
IANNI,
Octavio, A sociedade global,
Civilização Brasileira, Rio de janeiro 1996; Teoria
da globalização, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 1997.
LEFORT,
Claude, A invenção democrática. Os limites do totalitarismo.
São Paulo, Brasiliense 1983.
SWIDLER,
L., Diritti
umani: una panoramica storica, in “Etica delle religioni
universali e diritti umani”, Concilium 2 (1990).
TRINDADE,
José Damiano de Lima, Anotações
sobre a história social dos direitos humanos, in “Direitos
Humanos. Construção da Liberdade e da Igualdade”, Centro de Estudos
da Procuradoria Geral do Estado, São Paulo 1998, pp. 23-163.
ZENAIDE
Maria de Nazaré Tavares, Construção
conceitual dos Direitos Humanos, in “Formação em Direitos
Humanos na Universidade”, in ZENAIDE, M. N. T/LEMOS, L. L. (orgs), Formação
em Direitos Humanos na Universidade, Editora Universitária/UFPB, João
Pessoa 2001, pp. 41/49.
ZOLO,
Danilo, Cosmópolis. Perspectivas
y riesgos de un gobierno mundial, Paidós,
Barcelona, Buenos Aires, México 2000.
|