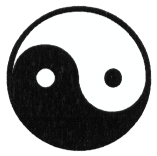
Dignidade
Humana: Conceito base da ética
e dos Direitos Humanos
Paulo César Carbonari
Ocupar-se da promoção e da proteção
dos direitos humanos é trabalhar em vista de traduzir para o cotidiano
da humanidade, em sua pluralidade e diversidade históricas, as condições
para fazer com que a dignidade humana seja entendida como ponto de
partida inarredável e princípio orientador das ações. Realizar
progressivamente, sem admitir retrocessos, a partir desta base, as
conformações e os arranjos sociais e políticos que oportunizem a
realização e implementação efetiva dos direitos humanos é o desafio
básico daqueles que efetivamente querem um mundo onde haja espaço e
tempo oportunos para a afirmação da humanidade. Queremos introduzir um
debate sobre a importância dos direitos humanos, refletidos eticamente,
tendo como base a idéia de dignidade humana.
Para atingirmos nosso
objetivo começamos com um debate sobre a natureza da reflexão que
queremos fazer. Ou seja, discutir em que medida a ética, como reflexão
filosófica tem condições de aportar elementos para estabelecer a
dignidade humana como elemento de fundo dos direitos humanos. Em
seguida, passamos a estabelecer a dignidade humana como centralidade do
debate sobre direitos humanos. Ao final, extrairemos algumas conclusões
na perspectiva histórica.
1. O lugar da ética
A filosofia primeira,
como unidade da razão ultimamente fundada, implica o reconhecimento da
validade intersubjetiva das normas morais como exigência para o
exercício da racionalidade como tal no caminho de afirmação de todo e
qualquer tipo de conhecimento válido e com sentido. Nela está
implicado o dever de ser racional, já que a racionalidade conta com o
intransponível da argumentação, sempre regrada publicamente.
Como se pode perceber, perseguiremos nosso objetivo, neste ponto,
seguindo a proposta da ética do discurso, na apresentação de
Karl-Otto Apel.
Argumentar, participar
da comunidade de comunicação, não é resultado de uma decisão
subjetiva, de um ato de fé, ou de uma constatação empiricamente
condicionada. Argumentar é condição transcendental de possibilidade
tanto da compreensão de eventuais decisões subjetivas, de atos de fé
e também de consideração de toda e qualquer condição empírica. O
fato de que argumentamos – empiricamente condicionante – não
fundamenta as normas da argumentação. Aceitá-lo livremente é condição
necessária, mas não suficiente da validade das normas. Portanto, o
reconhecimento da argumentação e do acordo ultimamente fundado é
condição que se confirma suficientemente pelo processo de reflexão
transcendental. Não é um fato a ser demonstrado, e sim a ser
reconhecido como desde sempre presente no processo racional.
A reconstrução das
condições da razão prática é um exercício comunicativo que não
pode abrir mão do a priori da argumentação.
O reconhecimento do a priori da argumentação implica o reconhecimento
do a priori prático da participação (tomar parte) no processo de seu
estabelecimento, rompendo-se, dessa forma como o solipsismo metódico
na razão prática. O dever de cumprir a norma básica não depende,
dessa forma, de uma decisão de vontade, ou de uma vontade reta. Depende
do reconhecimento do que já está implicado no ato de propor uma norma
que seja justificada. Em última análise, mesmo o ato de refutar a
necessidade da justificação de uma norma básica, é ele mesmo um
exercício de argumentação e, como tal, precisa pressupor as condições
da argumentação, entre as quais está a norma ética básica – sem o
que, resta-lhe, como ao cético, cair em contradição performativa. A
questão da justificação da norma não é insensata, a não ser
que se tenha desistido eo ipso de argumentar contra ou a favor
dela – relembrando Aristóteles, tornando-se uma planta e não de um
argumentante.
A fundamentação desse
processo há de seguir um modelo de fundamentação reflexiva.
Importante notar de início, que se pretende fundamentar uma
norma moral básica e não um sistema de moralidade. Isto porque, como
mostraremos, a própria norma implica a possibilidade de respeito a vários
sistemas, contanto que fundem seu sentido último na norma
universalmente reconhecida. Está implicada aqui, portanto, a
necessidade de um fundamento obrigatório da validade da norma ética básica
e não de um argumento capaz de obrigar a uma pessoa a reforçar
voluntariamente a norma cuja validade já seja considerada indiscutível.
Não se trata de fundar a necessidade de seguir uma norma básica, mas
de mostrar que o seguimento de qualquer norma, de modo particular da
norma básica, implica a necessidade obrigatória de que ela seja válida
e, por isso, ultimamente fundada.
A norma ética básica
estabelece que somente são eticamente relevantes as pretensões humanas
que puderem ser universalizadas mediante um acordo ultimamente fundado
através da
argumentação
racional, que tem como objetivo a formação solidária da vontade.
Daí que, conclui Apel:
“As
subjetivas decisões de consciência de cada um, exigidas pela tradição
cristã, secularizada no liberalismo e no existencialismo, são agora
mediadas pela exigência de validade intersubjetiva a priori – de modo
a cada um reconhecer, desde logo, a argumentação pública como explicação
de todos os possíveis critérios de validade, e, assim, também da
formação racional da vontade”
.
Imediatamente, em
conseqüência dessa formulação, Apel afirma que: “Entender o princípio
aqui apresentado implica, sem dúvida, ao mesmo tempo, reconhecer que
pouco se consegue com a simples proposição do princípio, se não se
conseguir cumprir as tarefas de longo prazo propostas junto com o princípio”.
Esta questão introduz uma limitação do princípio (da norma) ética básica.
A limitação consiste que mesmo aquele que tiver plena compreensão do
princípio moral não pode imediatamente tomar parte de uma comunidade
(real) de comunicação, visto que permanece vinculado à sua real posição
e situação social, que o leva a assumir responsabilidades morais específicas.
É preciso notar, no entanto, que esta carência de base material, que
joga o princípio num aparente idealismo, na realidade, encerra uma dialética
(aquém) do idealismo e do materialismo. Nas palavras de Apel:
“Pois, quem
argumenta, sempre já pressupõe duas coisas: primeiramente, uma comunidade
de comunicação real, da qual ele mesmo se tornou membro através
de um processo de socialização; e, em segundo lugar, uma comunidade
de comunicação ideal que, em princípio, estaria em condições de
entender adequadamente o sentido de seus argumentos e de avaliar
definitivamente sua verdade”.
A aparente limitação
do princípio encerra, então, uma dialética que compõe a estrutura
transcendental do a priori da argumentação. Encarar a situação de
assimetria e de relativismo da comunidade real é uma condição de
possibilidade para pensar o princípio e para pretender realizá-lo.
Trata-se de entender que no próprio princípio a priori está implicada
a necessidade de realização histórica das condições do discurso, da
argumentação.
É partindo dessa exigência
(histórica, diríamos) de toda a argumentação que Apel chega ao que
chama de princípios reguladores básicos para a estratégia
duradoura de ação moral de cada homem. Trata-se do que também é
chamado de princípio de complementação à norma básica da ética.
Na Transformação, Apel o formula da seguinte maneira: “em
primeiro lugar, se deve tratar, em todo agir e deixar de agir, de
garantir a sobrevivência da espécie humana, como também da
comunidade de comunicação real; e em segundo lugar, de
concretizar, na comunidade real, a comunidade de comunicação ideal”.
A relação entre os dois aspectos implicados é, segundo Apel, a
seguinte: “O primeiro objetivo é condição indispensável do
segundo: e o segundo objetivo confere ao primeiro o seu sentido –
sentido que já está antecipado em cada argumento”. O que no primeiro
parece conservador, em realidade deixa de sê-lo já que seu sentido está
exatamente em permitir a realização da comunidade ideal. Ou seja, não
será destruindo os
homens, sua situação histórica, que se criarão as condições para a
realização da comunidade ideal; antes, é condição para a realização
da comunidade ideal reconhecer a situação histórica. Apel tem aqui
ante os olhos explicitamente a problemática externa no sentido
de que as conseqüências técnico-científicas apontam exatamente para
a destruição das condições de sobrevida da humanidade, com
dignidade, como ameaça real à comunidade real. Daí que, é possível
compreender claramente a importância de levar a sério a situação, não
como dado absoluto, mas como componente que precisa ser transformado em
vista de melhores condições. A condição de igualdade dos
participantes do discurso argumentativo, exigida pela comunidade ideal,
implica reconhecer a assimetria histórica e moralmente trabalhar para
sua superação em vista da realização de condições simétricas também
na história. Neste sentido, a comunidade ideal não é um mero
postulado, ou uma reserva de nossas melhores intenções como
humanidade; assim como a comunidade real não é o reservatório da
resistência à toda colonização sistemática por si só. Ambas se
completam dialeticamente no sentido de uma contradição que precisa ser
suportada na perspectiva da sua superação histórica como longo
caminho de realização. O suportar adquire aqui, o sentido de não
pretender uma síntese unificadora de ambas, mas de compreender que, sem
tê-las em conta e sem levá-las a sério não se pode pretender
qualquer modificação, nem mesmo se pode justificar qualquer ação
moralmente significativa. A validade de qualquer ação moral se
encerra, portanto, na obrigação de reconhecer que ela somente pode ter
sentido se puder ser universalizada num processo de formação solidária
da vontade, num processo intersubjetivo de formação de consenso na
comunidade de comunicação.
2.
Dignidade humana, conceito base da ética e dos direitos humanos
O estabelecimento de
uma norma universalmente válida, tentativa empreendida pela ética, não
sem grandes problemas, é também, de alguma forma, a tentativa que se
configura como necessária para o estabelecimento dos direitos humanos
como universais. Neste sentido, direitos humanos se configuram como
conteúdo normativo de uma ética universalmente válida. É claro que o
tema direitos humanos não encerra somente este aspecto, talvez o mais
difícil de ser estabelecido, mas também, desdobramentos de natureza
jurídica e política, que apenas apontamos e que não haveremos de
tratar com profundidade aqui. Em nosso entendimento, sem entrar na polêmica
jurídico-política, da universalidade, indivisibilidade e interdependência
dos direitos humanos, queremos por a questão em termos éticos. Daí
que, entendemos que a dignidade humana é a base fundamental, conversível
em norma de ética em termos de conteúdo, o que significa dizer que,
neste sentido, os direitos humanos, entendidos, eticamente, como a
garantia da dignidade humana, se configuram em conteúdo fundamental de
uma ética universalmente válida.
Sustentamos esta
compreensão no entendimento de que a noção de direitos humanos possui
uma unidade normativa interna que se funda na dignidade igual
de cada ser humano como sujeito moral, como sujeito jurídico, como
sujeito político e como sujeito social. O reconhecimento desta unidade
normativa encontra eco reflexivamente, até porque, a construção
de qualquer ordenamento, seja ele jurídico, político ou social tem por
base sempre a garantia de condições para que o ser humano tenha lugar
central e intransponível. Esta unidade normativa cria condições
tanto para orientar a construção dos arranjos históricos de sua
efetivação quanto, reversamente, para a crítica daqueles arranjos que
não caminham concretamente na perspectiva de sua efetivação.
Discordando das teses
liberais ou liberalizantes, afirmamos que os direitos humanos econômicos,
sociais e culturais não estão hierarquicamente em posição inferior
os direitos humanos civis e políticos. Eles estão em posição de
equivalência. Estamos cansados de ter que suportar situações onde
sucessivos governos justificam ditaduras dizendo que em sociedades
profundamente assimétricas é justificável a redução das liberdades
fundamentais em nome da garantia do progresso sócio-econômico. Ou então,
que, mesmo pobres, é melhor vivermos em um tempo de garantia da
liberdades básicas, o que nos dá a chance de entrar no campo
competitivo do liberalismo e quiçá galgar postos de satisfação mais
aprimorada das demandas humanas, sempre individualmente. Isto significa
dizer que tratar de direitos humanos é tratar de todos os direitos
humanos, dos direitos humanos civis, políticos, ecoômicos, sociais e
culturais.
Esta posição
implica reconhecer que não há liberdade que possa ser exercida sem um
espaço social de solidariedade. Até porque, como confirma
Fraling: “Seres humanos são seres materiais e necessitam de bens
materiais para sobreviver. Sem a satisfação de necessidades econômicas
básicas não se torna possível a existência da pessoa em liberdade,
moldando a sua existência”. Ou seja, a garantia de
satisfação dos direitos humanos implica seu tratamento integral, o que
também está em jogo quando falamos de seu reconhecimento como
universais. Ou seja, todos os direitos humanos tem a pretensão de ser
universais. Evidentemente que o modo de realização histórica de uns e
outros direitos ganha contornos diversos. No entanto, privilegiar uns ou
outros significaria abrir mão do princípio básico da dignidade
humana.
A universalidade
é o anseio profundo dos atos humanos mais genuínos. Agimos com vistas
ao reconhecimento, por todos, de que nossa ação é a melhor, a mais
justificada. Mas, conversar sobre universalidade é deveras muito difícil,
visto que implica numa questão muito complexa, a diversidade. Enfim,
encerra um problema espinhoso que é o de estabelecer o que,
efetivamente, está em condições de ser reconhecido como universal e
se isto implica, necessariamente abrir mão do particular, de alguma
forma o problema que identificamos na questão ética.
Traduzindo a questão
em termos históricos, não poucos países, grupos e nações do mundo
levaram muito tempo para reconhecer a universalidade dos direitos
humanos e outros ainda não a reconhecem, justificando que ela
representa o ideal de vida não da humanidade como tal, mas do modo de
vida ocidental e capitalista, não se adequando, portanto, ao modo de
vida próprio de tais grupos, países ou nações. Com este problema
concreto a luta dos direitos humanos tem convivido ao longo dos anos.
A Conferência de
Viena
parece ter chegado a uma formulação um pouco mais satisfatória sobre
o assunto. Segundo ela, os contextos locais e históricos devem ser
levados em conta. Isto significa que podem ser diferentes as formas de
interpretação e mesmo de aplicação dos direitos fundamentais, de um
lado, mas, é condição para que tal possa ser garantido, a necessidade
do reconhecimento dos direitos fundamentais, entendidos como reguladores
da ação. Ora, segundo a ONU, na idéia mesma de direitos humanos está
guardada a idéia de respeito à diversidade e à pluralidade. Portanto,
opor-se aos direitos humanos em nome da diversidade e da pluralidade, é,
de certa forma, negá-las. Dito de outra forma, é para garantir a
diversidade que um acordo básico é exigido: ao menos o de que todos
precisamos respeitar as diferenças.
Ocorre que este
acordo não pode ser um mero acomodamento de interesses, ou um pacto ao
estilo hobbesiano, pela sobrevivência. Antes, pelo contrário, cremos
que ele precisa ser um acordo fundado em razões justificadoras de sua
manutenção e até, eventualmente, de sua modificação em nome de um
acordo mais satisfatório para todos. Se nele não estiverem previstas
todas as consequências, e se suas razões são não suficientemente
fundadas, ele se revela incapaz de satisfazer a todos, havendo a
necessidade de sua reformulação. Em suma, a garantia dos direitos
humanos como direitos universais foge da postura essencialista, de um
lado, que crê numa certa idéia de natureza humana a ser preservada e
foge também, de outro, da postura contratualista, que os justificam no
acerto de interesses. Aqui é que entra a idéia de dignidade humana
como conteúdo base tanto para a constituição da ética, quanto como
base dos direitos humanos. No entanto, mesmo esta idéia, ela há que se
configurar como construção histórica, longe de posições
essencialistas, naturalistas ou contratualistas.
Neste sentido, a
justificação do direito não está noutro lugar senão numa gama
complexa de razões que deverão se conjugar satisfatoriamente diversos
aspectos e não há o que invocar que seja anterior ao ato de
reconhecimento. Ou o reconhecimento se estabelece motivado
suficientemente por razões comuns ou, então, ele será mera farsa que
logo diante do primeiro conflito maior sucumbirá. Em outras palavras, só
com motivos muito sérios e justificados é que seremos capazes de
reconhecer os outros, a diversidade. E, esses motivos não podem ser
privados. Eles têm que ser comuns aos motivos dos outros.
3. Cidadania, dimensão
histórica da dignidade
O jurista brasileiro,
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Antônio
Augusto Cançado Trindade, em sua palestra na IV Conferência Nacional
de Direitos Humanos, realizada em 1999, em Brasília, diz, neste
contexto, que o grande desafio encontra-se em “situar a pessoa humana
no centro de todo o processo de desenvolvimento, o que requer um espírito
de maior solidariedade em cada sociedade nacional e a consciência de
que a sorte de cada um está inexoravelmente ligada a sorte de todos”.
Em outras palavras, consiste em articular a idéia de cidadania em
sentido amplo e que articule a diversidade das dimensões da vida
humana, tendo como pano de fundo a dignidade humana.
Seguindo esta lógica,
entendemos que os direitos humanos exigem, além dessa base fundacional,
centrada na dignidade humana, uma base histórica para sua realização,
em processo, em espaços sociais e políticos. Neste sentido, é que
abrimos diálogo entre a idéia de uma norma universalmente válida
configurada no princípio apeliano e a idéia dos direitos humanos,
tendo na dignidade humana sua base fundamental. O mecanismo histórico,
reconhecidamente em condições de permitir o avanço deste processo é
o de uma sociedade democrática. Dessa forma, seguindo o raciocínio de
Bielefield, democracia e direitos humanos andam abraçados da seguinte
forma:
“Com a metáfora do
recíproco abraço queremos estabelecer a unidade normativa entre
direitos humanos e democracia, na qual, concomitantemente e sem
hierarquização, pode surgir uma diferenciação que não se constitui
em diferença de princípios, mas que representa, isto sim, uma diferença
de modo de realização do mesmo e inalienável princípio da
mesma liberdade solidária. No momento em que se dissolver essa unidade
de princípio de direitos humanos e democracia ou passar a haver relação
de subordinação de um em relação ao outro, ambos perdem” .
Com
isso queremos dizer que a unidade normativa dos direitos humanos e da
democracia alcançam fundamento ético na dignidade humana, como construção
histórica das condições de sua efetivação no seio de uma comunidade
real, condicionada. Isto significa que o próprio conteúdo específico
dos direitos humanos é construção histórica, fundada na dignidade
humana, que também tem uma dimensão histórica, o intransponível de
qualquer conteúdo possível que se possa agregar ao que se quer
entender como direitos humanos, e que o seio histórico no qual estão
as condições para sua construção é o de sociedades democráticas em
sentido pleno, muito além, portanto, da mera formalidade da escolha de
representações para os postos de poder.
Referências
Bibliográficas
1. APEL, Karl-Otto. Estudos
de Moral Moderna. Trad. Benno Dischinger. Petrópolis: Vozes, 1994.
2. _______. La ética
del discurso como ética de la responsabilidad: una transformación
posmetafísica de la ética de Kant. IN: APEL, K-O; DUSSEL, E.D.;
FORNET-BETANCOURT, R. Fundamentación de la ética y la Filosofia de
la liberación. Trad. Luis F. Segura. México: Siglo Veintiuno/Iztapalapa,
1992, pp. 11-44.
3. _______. La
transformación de la Filosofia. Trad. Adela Cortina, Joaquin
Chamorro y Jesus Conill. Madrid: Taurus, 1985. Tomos I e II. No
original: Transformation der Philosopie. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1976, 2 vol.
4. _______. Una ética
de la responsabilidad en la era de la ciência. Buenos Aires:
Almagesto, 1990.
5. BIELEFELDT, Heiner.
Filosofia dos Direitos Humanos. Dankwart Bernsmüller. São
Leopoldo: Ed. Unisinos, 2000. No original: Philosophie der
Menschenrechte. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.
6. CANÇADO TRINDADE,
Antônio Augusto. O Brasil
e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
IN: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão de Direitos Humanos. Relatório
da IV Conferência Nacional de Direitos Humanos. Brasília: Coordenação
de Publicações, 2000.
|