|
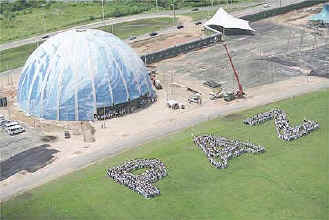
Por uma educação pela paz e pela não violência
Observa-se hoje uma
crescente preocupação da sociedade brasileira com o fenômeno da violência
urbana e sua banalização. Neste contexto, a paz parece um horizonte
muito distante de ser alcançado. Uma primeira dificuldade reside na própria
definição do que se entende por violência e por paz. Para muitos, a
violência identifica-se com criminalidade e/ou agressão física. Esta
é a dimensão que ganha cada vez mais espaço nos jornais e noticiários
de rádio e TV. Para outros a violência constitui um fenômeno tão
abrangente que simples conflitos de opinião são considerados como
manifestações de violência. Contudo, pode-se afirmar que, na maioria
das visões que se tem do fenômeno, o que está presente, como marca
constitutiva, é a tendência à destruição, ao desrespeito e à negação
do outro, podendo a ação situar-se no plano físico, psicológico ou
ético. Da mesma forma, o conceito de paz mostra-se amplo e
multidimensional. Observa-se que cada indivíduo ou grupo de indivíduos
define a paz a partir da realidade em que vive e das necessidades mais
urgentes desta realidade, o que, certamente, varia de acordo com o
momento histórico em que se insere. A paz também pode ser compreendida
a partir de diferentes dimensões: pessoal, coletiva, social, política.
A partir destas reflexões
iniciais, este trabalho se propõe a discutir alguns dos fatores que têm
contribuído para o aumento de manifestações violentas no interior das
escolas e a provocar uma reflexão acerca de como a educação escolar
pode atuar na construção de uma cultura da paz e da não violência.
A VIOLÊNCIA E SUAS
MANIFESTAÇÕES NA ESCOLA
Quando se busca
identificar os fatores que determinam o crescimento da violência
urbana, verifica-se que uma das vertentes mais trabalhadas é, sem dúvida,
a sua relação com a desigualdade social, ou seja, a sua dimensão
estrutural. Problemas tais como a miséria, a fome, o stress causado
pelo desemprego, a falta de condições dignas de sobrevivência, a
falta de acesso a bens tais como saúde e educação têm sido
frequentemente relacionados à violência.
No entanto, não se
pode afirmar que a pobreza e suas consequências, constituem os únicos
fatores determinantes deste fenômeno. Constata-se que estes fatores,
por si sós, não explicam a perda dos referenciais éticos que
sustentam as interações entre grupos e indivíduos(1),
Observa-se, hoje, uma sociedade marcada por uma forte “anorexia
moral”(2) , que se reflete no descompromisso, causado pelo
sentimento individual de apatia em relação à vida social, na ausência
de utopias, na perda do sentido de viver, na falta de solidariedade, na
ausência de parâmetros definidos sobre o que é certo e errado. A
difusão, na sociedade atual, de valores individualistas significou em
enfraquecimento nas formas de relacionamento.
Num âmbito mais
abrangente, observa-se uma crescente intolerância com relação às
diferenças étnicas, culturais, religiosas e outras que têm inspirado
muitas das ações de destruição, de negação do outro e que estão
presentes em nossa sociedade.
“muitas guerras têm
sido causada por questões de identidade cultural visando à destruição
do outro;... muitas consequências cruéis são decorrentes da globalização
do intercâmbio cultural e do intercâmbio econômico que levam à
desintegração dos valores dos povos. Atualmente, a intolerância tem
suscitado sentimentos de exagerado nacionalismo, revivendo diferenças
étnicas e religiosas e levando milhões ao refúgio e à perda do
“direito de ter direitos” (UNESCO, 1999).
Como não poderia
deixar de acontecer, o crescimento da violência urbana é acompanhado
de um significativo aumento de manifestações violentas no interior da
escola. Estando a violência presente na rua, nas relações de
trabalho, na mídia, inclusive nos programas infantis, não seria de se
esperar que ela estivesse ausente do espaço escolar. Pais e
educadores/as têm manifestado uma grande preocupação com as
frequentes expressões da violência no interior das escolas, tais como:
a interferência e a presença do narcotráfico no cotidiano escolar, a
depredação dos prédios e materiais escolares, as brigas e agressões
entre alunos/as e entre estes/as e os adultos que trabalham nas escolas
e a violência familiar,
que apesar de estar localizada, quase sempre, fora dos muros escolares,
interfere significativamente no trabalho que aí se realiza.
Ao analisar os fatores
que têm contribuído para este crescimento da violência nas escolas,
é possível constatar que, da mesma forma que nos casos de violência
urbana, eles podem estar relacionados tanto a questões estruturais,
quanto a questões culturais e/ou éticas. Podem ainda ter suas origens
localizadas na estrutura social mais ampla ou na própria dinâmica
escolar.
No que se refere ao nível
mais amplo, uma primeira constatação se destaca: mudou a escola e
mudou o/a professor/a. “A escola era vista enquanto instrumento de
ascensão social, o professor possuía status como mediador dessa ascensão,
a escola era fonte privilegiada de informações” (Fávero, 97, p.32).
Nos últimos anos temos vivido uma reversão deste quadro. O baixo
investimento do Estado no setor e a falta de políticas educacionais
voltadas para uma real democratização da escola e valorização do
magistério tiveram como efeitos visíveis o esvaziamento e a fragmentação
na formação dos professores, a diminuição drástica nos salários, o
profundo mal-estar presente nos meios educacionais, a desvalorização
da educação e do magistério e acabaram por gerar uma grave crise de
identidade da escola.
Esta crise reflete-se,
no enfraquecimento do papel desempenhado pela escola na sociedade. A
expectativa de muitos pais e alunos continua sendo a de que a escola
proporcione às crianças e aos jovens o acesso a uma “vida melhor”(3),
através de suas funções clássicas: a transmissão dos saberes
historicamente construídos e de uma disciplina que lhe seja útil para
o desempenho de uma profissão no futuro. Este discurso enfrenta, no
entanto, sérias contradições. Se de um lado, no imaginário popular,
a escola “promete” ascensão social e respeitabilidade, de outro a
realidade desmente essa promessa, contribuindo para a falta de
perspectivas presentes, hoje em nossa sociedade e, em especial, entre os
jovens. Cresce a distância entre as expectativas dos indivíduos e a
realidade.
Esta crise de
identidade das escolas é reforçada quando se conjuga a ela a crise de
valores que caracteriza nossa sociedade atual, presente também no
cotidiano escolar. A ausência de utopias, a perda dos laços de
solidariedade, a crise nos modelos de comportamento, o desenraizamento
cultural, afetivo e religioso afetam significativamente o trabalho que
se realiza no interior da escola e estão na origem de uma cultura da
violência.
Apesar de haver uma íntima
relação entre estes fatores, cujas origens estão na sociedade de uma
maneira geral, e o aumento de ações violentas no espaço escolar, não
se pode afirmar que eles são os únicos determinantes do fenômeno. É
possível que, no interior das escolas, esta cultura da violência surja
como uma forma não explícita de resistência ao julgamento escolar
e/ou protesto contra o mau exercício, pelo adulto de sua função. Não
raro, o sistema escolar, através de uma prática que privilegia o
desempenho individual, coloca o sujeito, seja professor/a ou aluno/a, a
uma situação de solidão e competição, que pode reforçar aquele
modelo de sociedade que se tem desenvolvido nos últimos anos. Neste
campo, constata-se que a avaliação dos resultados escolares e as
notas, constitui um ponto de conflitos particularmente significativo no
cotidiano escolar.
Sabe-se ainda que atos
de violência podem estar relacionados à baixa qualidade de vida em
termos de infra-estrutura. Aplicando esta concepção ao espaço
escolar, pode-se afirmar que, muitas vezes, o estado de abandono e
precariedade em que se encontra grande parte das escolas públicas pode,
de algum modo, estar relacionado com manifestações de violência como
a depredação escolar. Como podem educadores/as e alunos/as sentirem-se
valorizados e respeitados, se o ambiente em que trabalham e estudam está
abandonado?
EDUCAR PARA A PAZ E A NÃO
VIOLÊNCIA
Estas reflexões
apontam para a complexidade de se estabelecer caminhos possíveis para o
enfrentamento de questão da violência na escola, dada a sua abrangência.
Contudo, é possível destacar algumas ações e estratégias,
relacionadas a dois diferentes níveis de atuação: um primeiro que se
refere ao conjunto da sociedade como um todo, incluindo-se aí o governo
e os sistemas de ensino e um outro que diz respeito, especificamente, ao
trabalho pedagógico que se realiza no interior das escolas.
No que se refere ao nível
mais amplo, destaca-se a importância de serem implementadas políticas
públicas sociais sérias que promovam mais emprego, educação, saúde,
lazer para todos e de combate ao trabalho infantil e ao narcotráfico.
Destaca-se ainda a necessidade de implementação de políticas
educacionais voltadas para uma real valorização da escola e do magistério
que vão, desde medidas gerais como a melhoria dos salários dos
professores de ensino e das condições físicas e materiais das
escolas, até medidas mais específicas, tais como um maior investimento
e incentivo às práticas desportivas nas escolas e à instituição de
espaços coletivos, dentro dos horários escolares, que tenham por
objetivo proporcionar aos educadores/as momentos de reflexão sobre os
problemas que afetam o cotidiano escolar e uma melhor formação
profissional. Necessita-se, ainda, de um amplo debate com o objetivo de
redefinir o papel da educação escolar, o que certamente poderia
contribuir para a superação da atual crise de identidade da escola.
Construir um caminho que busque reforçar a função formadora da
escola, voltada para a aprendizagem escolar, concebida como um dos
instrumentos de formação cultural e inclusão social e para a construção
do sujeito ético, político e social, constitui, certamente, um grande
desafio para a sociedade e, em especial, para educandos e educadores.
No nível mais específico
de atuação, que se refere ao trabalho que se realiza no interior da
escola, promover uma educação que enfatize os valores humanos e
sociais, a resolução de conflitos através do diálogo e a construção
da justiça constitui um passo importante para se enfrentar com
determinação os desafios de superar a violência escolar. Vivenciar
valores como a amizade, a solidariedade, a justiça, exercitar o diálogo
e a participação nas diferentes instâncias escolares, cuidar do espaço
físico e dos materiais escolares, promover atividades extra-classe,
intensificar as relações com as famílias, zelar pelo bom
relacionamento interpessoal, garantir espaços de reflexão coletiva
sobre prática educativa constituem algumas das estratégias pedagógicas
para o enfrentamento da violência escolar e a construção da paz. Cabe
ressaltar mais uma vez a importância de se voltar o trabalho pedagógico
para a construção de um ser social dotado da capacidade de falar, como
principal estratégia para a resolução dos conflitos. Algumas experiências
têm mostrado que a aquisição de confiança na palavra, pode
substituir os atos violentos pela comunicação. Neste sentido, o diálogo
pode ser considerado como instrumento privilegiado para diminuir
manifestações não verbais de violência.
Dar voz aos estudantes,
discutir com eles/as sobre suas próprias expectativas, desvendar os
ingredientes ideológicos da tarefa educacional, desenvolver formas
participativas de construção de normas são fatores que podem
contribuir, significativamente para a construção de um ser social
capaz de falar, de respeitar, de lutar pela justiça, de construir a
paz. Para se enfrentar uma cultura da violência, é necessário
trabalhar por uma cultura da paz que enfatize os valores sociais e
humanos, a ética, a solidariedade, o respeito aos direitos humanos no
dia a dia.
Revista NOVAMERICA nº 86 - Página 48
Maria das Graças C. de A.
Nascimento
Membro da Equipe de Direitos Humanos Educação e Cidadania da
Novamerica
Rio de Janeiro – Brasil
Notas:
Consideramos que a
pobreza não pode explicar algumas manifestações de violência, tais
como: a cometida por grupo de jovens “lutadores” em bairros nobres
da cidade, a violência no trânsito ou os crimes cometidos por filhos
de famílias economicamente favorecidas.
Termo utilizado por
Jurandir Freire em conferência proferida na PUC-Rio, em novembro de
1997.
A idéia de “vida melhor”
está, frequentemente, associada à inserção no mercado de trabalho
e à oportunidade de emprego em função socialmente mais valorizadas.
|