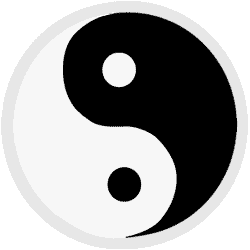
GÊNERO E DIREITOS HUMANOS
Clair
Ribeiro Ziebell
O
presente texto objetiva subsidiar a oficina Gênero
e Direitos Humanos, a qual integra a programação do seminário
Pobreza, Exclusão e Direitos
Humanos, promovido pela UNISINOS. Este texto não se propõe um
tratamento exaustivo e conclusivo em torno do tema: antes
constitui-se em mais um desafio de, aproveitando o espaço do seminário,
continuar desvendando as complexas relações sociais de gênero e
suas implicações com relação à democracia ocidental em nossas sociedades. Dessa forma, não nos omitimos da
importante tarefa de construção efetiva dos direitos humanos sob
uma ótica que
contemple o conjunto de interesses de homens e mulheres de qualquer
raça ou etnia, sem preconceitos de ordem sexual, religiosa e livre
de qualquer outra forma de discriminação. Pensar os direitos
humanos sob este enfoque não prescinde da categoria classe social, pois perderíamos a visão de conjunto necessária
para desvendar a complexidade social que envolve os direitos
humanos.
O
tema gênero
e direitos humanos nos remete ao contexto das lutas das
mulheres, organizadas nas últimas décadas em movimentos feministas
e em outras organizações, para que os direitos das mulheres sejam
respeitados como direitos humanos. Se legalmente os direitos humanos
são os direitos de todos e de todas e devem ser protegidos em todos
os estados e nações,
na prática isso ainda não acontece.
De
muitas maneiras, às vezes de forma explícita, outras de forma
sutil, no mundo inteiro perduram posturas restritivas em relação
aos direitos das mulheres como direitos humanos. Recentemente,
assistimos estarrecidas à violação dos direitos humanos das
mulheres no Afeganistão, que viram, de uma hora para outra, suas
liberdades cerceadas: foram impedidas de exercerem suas profissões
e de se manifestarem publicamente sem a permissão dos maridos e se
encontram cotidianamente expostas a constrangimentos. Mesmo sob
protesto de movimentos e de organizações internacionais que
manifestam seu repúdio a tais medidas e reiteram o apoio às
mulheres, que resistem a seu modo a essas violações dos direitos
humanos, não há garantias, a curto prazo, de que a situação seja
modificada.
No
mundo inteiro, a cada minuto, há mulheres, algumas meninas ou
adolescentes, sofrendo um tipo de violação dos direitos humanos.
No Brasil, basta ler os jornais e ouvir as denúncias feitas nas
delegacias da mulher para se ter uma idéia do quanto os direitos
femininos estão sendo cotidianamente desrespeitados. Se a mulher
for pobre e negra ou índia, a situação se agrava ainda mais. A
literatura específica também demonstra alguns números desta
realidade:
“No
Brasil, 23 milhões de mulheres trabalham, mas ganham em média 43%
menos do que os homens. 13% sustentam sozinhas suas famílias, que
estão entre as mais pobres do país. Uma mulher em cada cinco é
chefe de família. (...) O rendimento médio das mulheres que
trabalham no Brasil é de 2,8 salários mínimos, contra 4,9 s.m.
dos homens. (...) Estima-se em 1 milhão e 400 mil o número de
abortos por ano no país. Os métodos mais utilizados pelas
brasileiras em virtude da falta de opções são a pílula e a
esterilização. A taxa de mortalidade materna é de 150 a cada 100
mil partos. (...) Existem 182 delegacias especiais de atendimento à
mulher. Só no Estado de São Paulo, entre 1985 e 1990, foram
registrados 41.150 casos de ameaças. Homicídios em que a vítima
é mulher: 80% dos casos continuam sendo absolvidos com o argumento
de defesa da honra. Em 1985, o Conselho Estadual da Condição
Feminina de São Paulo mostrou que 70% dos crimes de violência
denunciados contra a mulher ocorrem dentro de casa.(...)”
Outro
dado importante é quanto a desigualdade no acesso ao poder e na
tomada de decisões sendo baixa a proporção de mulheres nos níveis
decisórios no Brasil e no resto do mundo.
Em
São Leopoldo, o cotidiano das mulheres com que atuamos é marcado
pela pobreza e exclusão.
Pensar em seu dia-a-dia leva-nos a refletir sobre o contexto histórico
a que nos referimos e, principalmente, sobre a relação entre
cotidiano e exclusão. José de Souza Martins (1989) afirma que a
história do capitalismo tem sido uma história de exclusão e
marginalização de populações, mas uma exclusão integrativa, que
cria reservas de mão-de-obra e que cria mercados temporários ou
mercados parciais, em que jovens
e mulheres são os principais
afetados.
Aqui,
as mulheres sofrem, num primeiro momento, a exclusão da terra de
onde procedem. Vêm do interior de outras cidades e estados,
vitimadas pela relação de dominação e de exploração e pela
falta de uma política agrária. São expropriadas de suas terras
com seus maridos, filhos e filhas. Algumas deixam para trás
mulheres de outras gerações (mães, avós, tias), outras vêm
depois destas.
Na
cidade, ocupam as chamadas áreas verdes (públicas) ou terrenos
baldios de propriedades privadas, enfrentando o conflito e, não
raras vezes, novas exclusões, o que acontece sempre que a
propriedade (privada ou pública) se sente ameaçada. Quando
conseguem fixar-se em alguma área, enfrentam problemas advindos,
por um lado, da falta de infra-estrutura em esgotos, água potável,
recolhimento e tratamento do lixo e mau estado das ruas; outros
decorrem da insuficiência e má qualidade das políticas sociais públicas
de educação (no que
se refere às deficiências de creches e de escolas), de saúde (no
que se refere ao não atendimento dos postos de saúde à demanda,
à ausência de prevenção e à inexistência de programas voltados
à saúde da mulher), e de proteção e de segurança (no que se
refere à inexistência de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de
violência e programas de prevenção e proteção).
Com
relação à inclusão no mercado de trabalho, a maioria das
mulheres não é absorvida como mão-de-obra nas indústrias do
Vale. As mulheres procuram incluir-se no mercado de trabalho formal;
quando não conseguem, buscam subempregos ou trabalho informal, o
que lhes permite algum tempo livre que dedicam ao cuidado da casa e
dos filhos. Julgam que, na cidade, há a oportunidade de biscates e
de empregos em cidades vizinhas. Mesmo com a precária
infra-estrutura de bens e de serviços na zona urbana, ainda acham
que usufruem mais do que na rural, onde praticamente inexistem os
recursos sociais necessários.
Em
suas histórias, percebem-se o abandono e a opressão em que viviam,
o que as expulsou de suas terras. Tais relatos são carregados de
saudade de familiares e de recordações de costumes e relações da
vida anterior. Algumas buscam na religiosidade e nos grupos de
mulheres incluir-se em atividades que alterem e amenizem a dureza da
rotina cotidiana, marcada pela desigualdade de classe e de gênero.
Essa
realidade, embora local, é produto das complexas relações sociais
no Brasil e no mundo e nos remete ao surgimento dos direitos humanos
sob uma ótica que relega as mulheres ao âmbito privado, fato que
mundialmente foi tido como “natural”.
Olympe de Gouges foi pioneira na reflexão, na denúncia e nas
proposições, levadas às últimas conseqüências (morreu na
guilhotina em 1793), em torno da exclusão das mulheres dos direitos
humanos desde a sua proclamação original por ocasião da Revolução
Francesa, em 1789,
“A
declaração dos direitos da mulher e da cidadã, redigida em 1791
por Olympe de Gouges, é o documento de História do Direito –
significativamente ausente de todos os compêndios – que contesta
sistematicamente a restrição masculina do conceito de igualdade. A
história da sua eliminação ou da sua transmissão apenas fragmentária,
assim como sua recepção até agora insuficiente, são provas
evidentes do acúmulo de resistências contra a equiparação dos
direitos das mulheres”.
Passados
quase dois séculos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948, também se
embasou no conceito de direitos humanos “historicamente
construído a partir do paradigma do homem branco e ocidental,
reificado como universal”.
Por
outro lado, o contexto descrito anteriormente mostra que, ainda
hoje, se faz necessário refletir como as concepções de democracia
afetam os direitos das mulheres em relação à cidadania e à
conseqüente participação política. As mulheres perceberam que a
concepção de direitos humanos e os mecanismos internacionais
correspondentes que buscam garantir que tais direitos sejam
respeitados não asseguram efetivamente as exigências e as
reivindicações do movimento feminista.
A
partir destas constatações vem sendo pleiteado, por mulheres da América
Latina e Caribe,
“uma
redefinição dos direitos humanos numa perspectiva de gênero, a
partir de uma leitura
da realidade que torne visível a complexidade das relações entre
homens e mulheres, revelando as causas e efeitos das distintas
formas em que se manifestam estereotipias e discriminações”
Recentemente,
no seminário “Democracia Radical e a Questão dos Direitos”, promovido pelo
Instituto de Filosofia da Universidade de Campinas, em São Paulo, a
feminista italiana Gabriella Bonacchi noticiou a reforma e a emenda
do texto de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(ONU), elaborada por uma “mesa
de mulheres” constituída pelo Ministério para as
Oportunidades Iguais Italiano. Segundo Gabriella,
“atualizar
o aspecto libertador do
modelo clássico francês significa
desmascarar o aparente universalismo (...) que é, na verdade, o
ponto de vista muito concreto do macho ocidental, adulto, branco e
proprietário. A França revolucionária excluiu as mulheres do jogo
(...) mas, segundo ela, as mulheres, hoje, não querem mais ficar de
fora, ‘e – diria Lênin – os homens não podem mais excluí-las’.”
Enfim,
uma pluralidade de movimentos no mundo inteiro vêm marcando presença
em defesa da cidadania, da qual as mulheres foram longamente excluídas.
Daí que a luta das mulheres visa à inclusão, forjando novos
mecanismos que incorporem seu o ponto de vista. Isto implica desde
modificações na linguagem, que passe a incluir as mulheres, antes
subentendidas na forma masculina, até a inclusão social, uma vez
que são as mulheres as mais duramente atingidas pela pobreza,
representando 70% do total de 1,2 bilhão de pobres no mundo.
Em
1994, a Conferência dos Direitos Humanos reafirmou que os direitos
humanos das mulheres são inalienáveis, indivisíveis e universais.
A Plataforma de Ação de Beijing também assegura igualdade e não
discriminação na lei e reivindica a inclusão do ensino sobre os
direitos humanos nas escolas. O maior desafio é garantir a afirmação
destes direitos, isso passa pela organização das mulheres, mas
também pela formação de novas concepções de mundo onde mulheres
e homens tenham consciência de que todo ser social é responsável
e capaz de fazer e refazer o mundo. Se na construção desse mundo
produzimos a desigualdade, podemos, imbuídos de outra mentalidade e
em condições objetivas favoráveis, construir
novo mundo e nova vida, buscando a igualdade na diferença.
Considerando essas breves e necessárias referências, cumpre
ressaltar que, embora tenhamos tratado da situação das mulheres em
relação aos direitos humanos, a abordagem que pretendemos não
enfoca simplesmente a “questão”
da mulher, como isolada das questões centrais da sociedade. Nesse
sentido, referimo-nos a gênero e direitos humanos e não a “mulheres”
e direitos humanos, embora as tenhamos como referência necessária.
A categoria gênero, com
origem na reflexão das feministas na Inglaterra (gender), vem
ampliar e redefinir o enfoque dos estudos e pesquisas antes
considerados estudos da mulher. Como categoria analítica, gênero
abrange também a realidade social, uma vez que as relações de gênero
estruturam o conjunto das relações sociais. Nessa ótica, as relações
entre homens e mulheres são percebidas como construções culturais
– “a criação
inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos homens
às mulheres”
Em
nossa atuação na extensão universitária, temos exercitado, na
assessoria prestada a movimentos de mulheres em São Leopoldo, uma
práxis que busca a organização das mulheres na defesa dos
direitos sociais e dos direitos humanos como um todo, considerando
sua indivisibilidade. O
processo e a consciência social necessária
estão se desenhando num tempo e num ritmo próprio,
implicando, nesse processo, histórias de vida, relações de gênero,
experiência em outros movimentos e em partidos políticos e esperança
numa atuação que, se vai além da defesa dos direitos das
mulheres, tem estes como ponto de partida.
Finalizando, pensamos ser oportuno lembrar aqui a reflexão de
Paulo Freire, que, como educador, foi sempre um defensor dos
direitos humanos. Em uma de suas últimas obras, Pedagogia
da Esperança, refere-se a
críticas que
recebera de algumas leitoras pela marca machista com que escrevera Pedagogia do Oprimido e antes, A
Educação como Prática de Liberdade. A crítica das leitoras
era para com a linguagem machista usada pelo autor, em que, segundo
elas, não havia lugar para as mulheres, pois, ao referir-se às
pessoas (sujeitos) e sua realidade, o autor usava sempre a categoria
homens. A pergunta que lhe
faziam as leitoras era: Por que não também as mulheres? Ao
perguntar-se sobre isto, o autor diz que se descobriu em contradição
ao pensar: “Quando falo
homem, a mulher necessariamente já está incluída”. Mas
depois continua:
“Em
certo momento de minhas tentativas, puramente ideológicas, de
justificar a mim mesmo a linguagem machista que usava, percebi a
mentira ou ocultação da verdade que havia no afirmar ‘quando
falo homem, a mulher está incluída’, e pensava por que os homens
não se acham incluídos quando dizemos ‘as mulheres estão
decididas a mudar o mundo’? Para os homens, ou eu não conheço a
sintaxe da língua portuguesa ou estou procurando brincar com eles.
O impossível é que se pensem incluídos no meu discurso. Como
explicar, a não ser ideologicamente, a regra segundo a qual, se há
muitas mulheres numa sala e só um homem, devo dizer: eles são
trabalhadores dedicados? Isto não é, na verdade, um problema
gramatical, mas ideológico.”
Fica-nos,
portanto, o desafio de incorporar em nossas práticas sociais o
enfoque do gênero, que, como categoria analítica, nos oportuniza
um novo olhar que desvende o que ainda permanece oculto pela
naturalização dos papéis homem
e mulher.
Referências
Bibliográficas
AS
MULHERES e a construção dos direitos humanos. São Paulo:
Comitê Latino Americano para a Defesa dos Direitos da Mulher, 1993.
BONACCHI, Gabriella e GROPPI, Angela. (org.)
O dilema da cidadania:
direitos e deveres das mulheres. São Paulo: Editora UNESP,
1994.
BUNCH, Charlotte. Feminismo,
Democracia e Direitos Humanos. mimeo, sd.
CONSELHO Nacional dos Direitos da Mulher. Beijing
1995. Brasília: Ministério da Justiça, 1995.
DOCUMENTAÇÃO
civil, Política Antidiscriminatória, Crimes de Tortura, Programa
Nacional de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da Justiça,
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a Pedagogia do 0primido.Rio
de Janeiro: Paz e Terra,1994.
FUNDO de População das Nações Unidas. Do
Cairo a Pequim. s/d.
GREY, Stephen. Mulheres nas sombras. Revista Seleções, março 2000.
NOBRE, Marcos. Mulheres direitos da
humanidade. Folha de São
Paulo. Caderno Mais. São Paulo, 23/08/98. p.5.
TABAK, Fanny. Autoritarismo e participação política da mulher. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1983.
ZIEBELL, Clair Ribeiro. Mulheres
na luta por educação: qual protagonismo? São Leopoldo, 1999.
165p. Dissertação (Mestrado
em Educação). Centro de Ciências Humanas, Universidade do
Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS